
Por Erwin Xue para “Agropages”
A Dinamarca retirou oficialmente a aprovação de 23 agrotóxicos contendo seis produtos químicos ligados a PFAS, enquanto outros 10 estão sob avaliação. Isso representa um desafio à intenção atual da UE de retirar certos agrotóxicos da ampla restrição de PFAS. Essa medida da Dinamarca pode servir como um forte catalisador para outros estados-membros, o que pode pressionar a Comissão Europeia a tomar medidas mais decisivas e coordenadas sobre os agrotóxicos que contenham PFAS. Do ponto de vista científico, a justificativa por trás da regulamentação é a difusão e a persistência das contaminações por PFAS e TFA. No entanto, a regulamentação levanta preocupações sobre a produção de culturas específicas (como a batata amilácea) e os ganhos dos agricultores no curto prazo, sugerindo que a regulamentação de PFAS precisa considerar todas as questões de forma abrangente: encontrar soluções alternativas práticas; ao mesmo tempo, fornecer fortes medidas de apoio aos agricultores; mais importante ainda, adotar um método preciso de avaliação de riscos; e se esforçar para alcançar um equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento agrícola sustentável.
A política pioneira de pesticidas PFAS da Dinamarca
Detalhes da proibição
A Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental revogou oficialmente a aprovação de 23 agrotóxicos específicos. Esses produtos contêm seis substâncias diferentes ligadas ao PFAS: fluazinam, fluopiram, diflufenican, mefentrifluconazol, tau-fluvalinato e flonicamida.
Essas substâncias ativas específicas são identificadas como contribuidores significativos que, de acordo com os dados de vendas da Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental, representam cerca de 5% do total de aplicações de agrotóxicos na Dinamarca, totalizando quase 160 toneladas desse tipo de composto usado na agricultura dinamarquesa.
A Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental está atualmente avaliando outros 10 agrotóxicos , cuja aprovação também poderá ser revogada, com a decisão final prevista para agosto ou setembro. Caso esses agrotóxicos também sejam proibidos, um total de 33 agrotóxicos serão retirados do mercado dinamarquês devido ao seu potencial de formação de PFA.
Implementação e eliminação gradual
O cronograma para a implementação da proibição varia de acordo com a disponibilidade de alternativas. Para os sete pesticidas para os quais não há alternativas práticas disponíveis, é previsto um período transitório de eliminação gradual de até 15 meses; para os dois pesticidas restantes, para os quais há alternativas prontamente disponíveis, a retirada da aprovação será processada e concluída em um período menor, de 6 meses (2 meses para a cessação das vendas e 4 meses para a cessação do uso).
Tabela 1 Principais pesticidas PFAS proibidos na Dinamarca e cronograma de eliminação gradual
|
Produto
Categoria
|
Nome do produto
|
Nº de registro/tipo de arquivamento
|
Substância ativa
|
Fim da venda
|
Fim de uso
|
|
Nenhuma venda
produto
|
Quartzo ES
|
1070-2
|
diflufenicano
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Lenvyor
|
19-237
|
mefentrifluconazol
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Saracen Delta Max
|
347-37
|
diflufenicano; florasulam
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Ohayo
|
352-6
|
fluazinam
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Diflanil 500 SC
|
601-1
|
diflufenicano
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
JURA
|
613-14
|
prosulfocarbe; diflufenicano
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Hinode
|
352-17
|
flonicamida
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
DALIMO
|
352-15
|
fluazinam
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
PURELO
|
613-16
|
prosulfocarbe; diflufenicano
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Winby
|
352-11
|
fluazinam
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Franzir a testa
|
352-10
|
fluazinam
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
LFS flonicamida
|
318-168
|
flonicamida
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Valdor Expert (antigo especialista Ronstar)
|
Para transferência
|
diflufenicano;
iodosulfurão-metil-nátrio
|
Pedido recusado
|
Pedido recusado
|
|
Alternativa
Disponível
|
Revyona
|
19-248
|
mefentrifluconazol
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
| |
Otelo OD
|
18-520
|
diflufenicano;
mesosulfurão-metil; iodosulfurão-metil-sódio
|
30 de agosto de 2025
|
31 de dezembro de 2025
|
|
Nenhuma alternativa
|
Propulse SE 250
|
18-597
|
protioconazol; fluopiram
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Vingança
|
11-58
|
fluazinam; azoxistrobina
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Kunshi
|
352-9
|
fluazinam; cimoxanil
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Zignal 500 SC (antigo Zignal)
|
11-35
|
fluazinam
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Banjo 500 SC
|
396-34
|
fluazinam
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Vamos
|
396-95
|
fluazinam
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Shirlan Ultra
|
352-13
|
fluazinam
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
| |
Protetor
|
623-7
|
protioconazol; fluopiram
|
31 de dezembro de 2025
|
30 de setembro de 2026
|
Fonte: Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental
Contexto histórico das iniciativas dinamarquesas de redução de agrotóxicos
A Dinamarca lançou seu primeiro plano de ação contra agrotóxicos em 1986, com a meta inicial de reduzir o consumo em 50% até 1997. Diante do fracasso da meta inicial (o uso de agrotóxicos aumentou, na verdade, 2% em vez da redução prevista de 25%), a Dinamarca tomou novas medidas, como a certificação obrigatória de pulverização comercial a partir de 1993 e verificações pontuais regulares de equipamentos de pulverização a partir de 1994.
Os planos de ação subsequentes continuaram a estabelecer objetivos ambiciosos, incluindo a redução do Índice de Frequência de Tratamento (ITF) e o estabelecimento de zonas de proteção livres de pesticidas ao longo de cursos d’água e lagos. Entre 2001 e 2003, o IFT caiu significativamente de 3,1 em 1990-93 para 2,1; uma pesquisa na Dinamarca mostra que o IFT pode ser reduzido ainda mais para 1,4 sem perdas econômicas significativas para os agricultores e o desenvolvimento social.
Tabela 2 Planos de Ação e Objetivos de Agrotóxicos aplicado na Dinamarca
|
Política/objetivos
|
Ano de referência/início
|
Alvo
|
Progresso atual/status atual
|
|
Primeiro Plano de Ação Dinamarquês para Pesticidas
|
1981-85
|
25% de redução até 1992; 50% até 1997 (vendas de ingredientes ativos)
|
Em 1992, houve um aumento de 2%, ao contrário.
|
|
Segundo Plano de Ação Dinamarquês para Pesticidas
|
1990-93
|
TFI abaixo de 2,0 em 2003
|
Em 2002, o TFI caiu para 2,04.
|
|
Terceiro Plano de Ação Dinamarquês para Pesticidas
|
2004
|
TFI abaixo de 1,7 em 2009
|
O TFI caiu de 3,1 (1990-93) para 2,1 (2001-03).
|
|
Estratégia Dinamarquesa de Pesticidas
|
2011
|
PLI não superior a 1,96 (com base em dados de vendas), ou seja, redução de 40%.
|
A meta foi definida, exigindo mais esforços.
|
|
Estratégia Dinamarquesa de Pesticidas
|
2021
|
PLI definido em 1,43 para 2025 (com base em dados de vendas)
|
A meta foi definida, exigindo mais esforços.
|
|
Acordo Verde da UE/Do Prado ao Prato
|
2015-2017
|
O uso de agrotóxicos químicos e o risco de uso diminuirão em 50% até 2030; o uso de pesticidas de alto risco diminuirá em 50%.
|
Progredindo lentamente, pois a implementação está sendo criticada.
|
Os planos de ação dinamarqueses para agrotóxicos exibiram suas atualizações políticas ao longo da história. Como seu objetivo inicial não foi alcançado, a Dinamarca introduziu novas medidas, como certificação e inspeção, enquanto a tributação de agrotóxicos passou por uma reforma significativa, que mudou de um imposto único orientado ao preço para uma tributação baseada na carga ambiental, demonstrando a disposição da Dinamarca em aprender com as deficiências políticas do passado com a adaptação de ferramentas políticas para alcançar os resultados ambientais esperados. Esse tipo de governança adaptativa revela que a atual proibição da Dinamarca de PFAS em agrotóxicos não é um caso isolado, mas faz parte de sua estratégia abrangente de gestão química de longo prazo. A experiência da Dinamarca fornece uma referência valiosa para outros estados-membros da UE, tendo enfatizado a importância da avaliação contínua, do aprimoramento de ferramentas políticas e de uma abordagem multifacetada (combinando regulamentação, incentivo econômico e serviço de consultoria), em vez de depender apenas de políticas únicas e estáticas para enfrentar desafios ambientais complexos.
Implicações para a União Europeia (UE): Um potencial catalisador da evolução
Quadro Regulatório de Agrotóxicos da UE
A UE adota um sistema duplo de regulamentação de agrotóxicos : a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) é responsável por avaliar a segurança das substâncias ativas, enquanto cada estado-membro é responsável por avaliar e autorizar a aplicação de produtos finais para proteção de cultivos em seu território; os produtos não devem ser lançados no mercado sem autorização prévia do respectivo estado-membro.
O Regulamento (CE) n.º 1107/2009 constitui a principal estrutura que rege a aplicação de agrotóxicos. Mais importante ainda, o artigo 44.º do Regulamento autoriza explicitamente os Estados-Membros a rever e retirar agrotóxicos caso se comprove que estes já não cumprem os requisitos estabelecidos, como, por exemplo, o requisito do limiar de contaminação das águas subterrâneas.
Dinamarca serve de modelo para outros Estados-Membros
A PAN Europe, uma organização de proteção ambiental, vê a decisão da Dinamarca como ″Um modelo para todos os estados-membros″ e incentiva fortemente a Comissão Europeia a lançar uma proposta rápida para proibir todas as substâncias ativas que contêm TFA em todas as regiões da UE.
A postura positiva da Dinamarca a coloca em posição de liderança na UE no enfrentamento dos riscos agrícolas relacionados aos PFAS. Essa atitude ousada envia um forte sinal a outros Estados-Membros da UE e pode se tornar um importante catalisador para ações semelhantes entre os Estados-Membros da UE. Essa tendência dinâmica indica que o avanço da política ambiental da UE não é inteiramente um processo de cima para baixo da CE, mas também pode ser impulsionado de baixo para cima por Estados-Membros motivados. A ação da Dinamarca está, sem dúvida, “testando as águas”, o que pode levar os Estados-Membros a almejarem alto na formulação de padrões ambientais. No entanto, isso pode, naturalmente, levar à fragmentação das políticas regulatórias, tornando a operação do mercado mais complexa.
Proposta atual de PFAS em toda a UE e isenção de agrotóxicos
Como componente central do Pacto Ecológico Europeu, a UE está comprometida em eliminar gradualmente os produtos químicos PFAS para alcançar um ambiente não tóxico, em linha com sua ambiciosa meta de “poluição zero”. Para cumprir esse compromisso, no início de 2023, uma proposta para a eliminação completa dos PFAS foi apresentada à ECHA.
No entanto, um ponto importante de controvérsia é a proposta inesperada das agências reguladoras da UE de retirar substâncias ativas de pesticidas da iniciativa mais ampla de restrição de PFAS . A premissa subjacente à isenção é que essas substâncias já são adequadamente regulamentadas pelas leis de pesticidas existentes.
Pelo contrário, relatórios como o Toxic Harvest, publicados por organizações ambientais como a PAN Europe, revelam que os ativos ligados aos PFAS estão “passando por brechas no sistema falho de avaliação de agrotóxicos ” para escapar da regulamentação. As organizações ambientais argumentam que a persistência de substâncias ativas e seus metabólitos, como o TFA, e outras propriedades importantes, como o potencial de desregulamentação endócrina, impactos ambientais e toxicidade crônica, não são adequadamente regulamentados ou são subavaliados.
O objetivo de “poluição zero” da UE e o compromisso de eliminar completamente os PFAS estão em contradição direta com a proposta de excluir agrotóxicos da proibição de PFAS. Essa exclusão se baseia na suposição de que os produtos são adequadamente regulamentados pelas leis de agrotóxicos existentes, sendo uma suposição que é diretamente contestada pela proibição dinamarquesa de PFAS e pelas conclusões da PAN Europe. Agrotóxicos formadores de TFA são aprovados e amplamente utilizados, mas estudos em nível nacional descobriram que os produtos estão excedendo os limites de águas subterrâneas, o que indica a existência de deficiências sistêmicas e inconsistências regulatórias significativas ou pontos cegos em nível da UE, onde diferentes estruturas políticas (por exemplo, REACH para produtos químicos gerais versus Regulamento 1107/2009 para agrotóxicos ) não estão totalmente harmonizadas para lidar com riscos químicos emergentes. Essa situação pode ser atribuída a vários fatores: a complexidade da avaliação de metabólitos persistentes, a dificuldade inerente no monitoramento ambiental de longo prazo ou possivelmente o esforço de lobby da indústria agroquímica. A ação da Dinamarca é uma exposição efetiva da lacuna, o que pode obrigar a UE a conduzir uma reavaliação crítica das isenções de agrotóxicos na estratégia ampla de restrição de PFAS da UE, de modo a adotar uma abordagem mais consistente e preventiva, aplicável a todos os produtos químicos.
Países da UE afetados
O TFA, como substância de decomposição persistente de agrotóxicos contendo PFAS, foi amplamente detectado em águas superficiais, subterrâneas e potável em vários países da UE, incluindo Suécia, Holanda, Alemanha e Bélgica, sem mencionar a Dinamarca. Além disso, o TFA foi encontrado em alimentos como vinho e cereais na Europa, indicando contaminação generalizada e intersetorial .
Por exemplo, a Suécia tem reavaliado ativamente sua aprovação de agrotóxicos contendo PFAS, mostrando que as medidas positivas da Dinamarca criaram um efeito cascata direto e prático.
Outra tendência crescente na UE é que os Estados-membros votaram em março de 2025 pela proibição permanente do flufenacete, outro agrotóxicos PFAS. Essa ação, embora direcionada a substâncias específicas, ressalta o crescente impulso na UE para resistir a esses produtos químicos.
Segurança alimentar e impacto econômico
Impacto potencial na produção agrícola
Os produtores agrícolas dinamarqueses dizem que a proibição de PFAS afetará particularmente a produção de batata amilácea, que depende de parte de substâncias proibidas; a batata amilácea é essencial para a indústria alimentícia, sendo amplamente utilizada em vários produtos.
Em termos gerais, de acordo com uma análise da meta de redução de 50% no uso de pesticidas da UE, prevista no Acordo Verde, a perda de produtividade de diversas culturas é previsível, com a produção de cereais e oleaginosas diminuindo em quase 20%, a de tomate italiano e espanhol em 20%, a de azeitona italiana em 30% e o plantio de hortaliças em estufas em 20%. Se as metas do Acordo Verde forem totalmente implementadas, a produção geral diminuirá 12%, de acordo com a previsão dos departamentos de administração agrícola.
Um declínio tão generalizado na produção pode levar a preços mais altos de alimentos e bens de consumo, resultando em maior dependência da importação de produtos agrícolas e diminuição da exportação de commodities importantes, levantando assim uma preocupação significativa sobre a segurança alimentar de longo prazo da UE.
Embora se espere um declínio geral na produção em toda a UE, estudos mostram uma previsão clara de produção fraca de batata com amido na Dinamarca, tomate na Itália e Espanha, azeitona na Itália, bem como hortaliças cultivadas em estufas. Essa estrutura de produção sugere que o efeito da redução de pesticidas não é distribuído uniformemente entre os setores agrícolas, mas sim concentrado em culturas especializadas, de alto valor ou centralizadas que historicamente dependem fortemente de insumos químicos específicos devido ao seu método de cultivo ou suscetibilidade a pragas. Isso significa que a abordagem única da UE para a redução de agrotóxicos não é muito realista, o que pode causar danos potenciais. As intervenções políticas (proibições, metas de redução) precisam ser cuidadosamente adaptadas aos tipos específicos de culturas, às condições climáticas regionais e às pragas predominantes. Em regiões que dependem fortemente das culturas afetadas, a segurança econômica e alimentar pode ser seriamente afetada, exigindo apoio específico no fornecimento de práticas alternativas, serviço de consultoria robusto e ajuste proativo do mercado para mitigar o impacto adverso.
Impacto econômico sobre os agricultores
De acordo com um relatório, a redução agressiva de agrotóxicos , especialmente em áreas protegidas, pode levar à inviabilidade econômica da agricultura convencional, do cultivo de frutas, vegetais e viticultura, o que resultará em ″perda maciça de produtividade e redução da renda dos agricultores″.
Em relação às terras agrícolas de alto rendimento, espera-se uma redução de aproximadamente 50% na receita; enquanto que, para terras agrícolas de baixa produtividade, a agricultura pode não ser mais economicamente viável a médio prazo. Culturas com alto valor econômico, como batata, colza e diversos vegetais, podem ter que ser interrompidas em muitos casos.
De acordo com dados históricos da Dinamarca, na década de 90 do século passado, o plantio sem pesticidas pode levar a uma perda média de rendimento entre 7% e 50% para diferentes culturas, onde a requeima da batata sozinha pode levar à perda de rendimento da batata em cerca de 38%, enquanto os danos causados por ervas daninhas podem reduzir pela metade o rendimento de sementes de grama.
No entanto, estudos anteriores conduzidos na Dinamarca mostraram que uma redução significativa no uso de pesticidas (por exemplo, redução de 80% na frequência do tratamento) pode gerar uma produção lucrativa de culturas especiais, com menos impacto na lucratividade de fazendas economicamente otimizadas, indicando que a gravidade do impacto econômico depende da quantidade de redução e da adoção de práticas alternativas.
Tabela 3 Impacto projetado da redução de pesticidas na produtividade e na renda do agricultor
(para as principais culturas na Europa)
|
Cultura/Indústria
|
Redução esperada do rendimento
|
Diminuição esperada da renda
|
|
Grãos e oleaginosas
|
Quase 20%
|
Não especificado
|
|
Tomate na Itália e na Espanha
|
20%
|
Não especificado
|
|
Azeitona na Itália
|
30%
|
Não especificado
|
|
Hortaliças em estufa
|
20%
|
Não especificado
|
|
Programa agrícola da UE (se as metas do Acordo Verde forem amplamente adotadas)
|
12%
|
Não especificado
|
|
Batata na Dinamarca (histórico)
|
Aproximadamente 38% (devido à requeima)
|
15% (Cenário economicamente otimizado)
|
|
Sementes de grama na Dinamarca (histórico)
|
Para ser reduzido pela metade (devido a danos causados por ervas daninhas)
|
Não especificado
|
|
Fazendas de alto rendimento (geral)
|
Não especificado
|
Aproximadamente 50%
|
|
Fazendas de cultivo (terras agrícolas de baixo rendimento)
|
Não especificado
|
Não é mais economicamente viável a médio prazo
|
Disponibilidade e eficácia de alternativas
O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é destacado como a pedra angular da política da UE, que enfatiza uma abordagem holística, incluindo prevenção, monitoramento rigoroso de pragas de insetos, alta priorização do uso de métodos biológicos, físicos e outros métodos não químicos sustentáveis, com o objetivo de reduzir o uso de pesticidas a um nível economicamente viável e ecologicamente razoável.
Até o momento, soluções alternativas não químicas específicas estão disponíveis para responder a diversos desafios agrícolas, incluindo alternativas para o cultivo de batata e o controle de plantas daninhas. Essas soluções alternativas incluem rotação estratégica de culturas, uso de cobertura vegetal, preparo mecânico do solo (por exemplo, capina mecânica) e seleção criteriosa de herbicidas seletivos livres de PFAS. Além disso, tecnologias emergentes, como a capina a laser, estão sendo testadas em países como a Alemanha, a fim de eliminar plantas daninhas sem o uso de produtos químicos.
Em termos de manejo da requeima da batata, existem alternativas além do tratamento químico. Entre elas, estão o uso de cepas microbianas como Bacillus e Pseudomonas como competidores contra bactérias patogênicas, o uso de fungos Trichoderma para formar uma barreira natural, a rotação de culturas, o uso de sementes sadias e devidamente tratadas (por exemplo, tratadas com pó de mostarda ou cinzas ricas em potássio) e também novos produtos biológicos.
Soluções herbicidas não químicas, como a capina a fogo, são amplamente utilizadas em países como Dinamarca e Suécia, mas têm um custo alto e também exigem retratamento frequente para atingir um efeito de controle equivalente ao tratamento químico, o que sugere que, embora existam alternativas, a viabilidade econômica e a eficiência operacional precisam ser melhoradas ainda mais.
A estratégia da UE, do prado ao prato, visa reduzir em 50% o uso de pesticidas químicos até 2030, o que reforça a necessidade de alternativas mais ecológicas. No entanto, quando as variedades e o uso de pesticidas são reduzidos, o impacto na produtividade e na renda do agricultor precisa ser avaliado caso a caso para garantir que a redução de pesticidas não cause consequências catastróficas, mas exija uma transformação fundamental do sistema agrícola. Essa transformação deve envolver a mudança da dependência de insumos químicos para o uso de processos ecológicos e o aumento da biodiversidade para manter a saúde e a produtividade das culturas. Isso requer um maior investimento da UE em MIP e estudos agroecológicos, bem como o fornecimento de treinamento, consultoria e apoio financeiro adequados aos agricultores, a fim de promover a adoção generalizada de soluções alternativas. Isso, em última análise, contribuirá para o aumento da segurança alimentar e da resiliência da agricultura a longo prazo, protegendo, ao mesmo tempo, o meio ambiente e a saúde pública.
Consenso e controvérsia científica
Embora a comunidade científica venha há décadas alertando sobre a persistência e a potencial toxicidade dos PFAS, a controvérsia em torno da ciência e da política ainda persiste sobre se todos os PFAS devem ser ″completamente proibidos″.
Os críticos da proibição completa argumentam que os PFAS constituem uma classe química ampla e diversificada, com cerca de 13.000 tipos de substâncias químicas com diferentes propriedades e perfis de risco. Alguns PFAS são considerados necessários para tecnologias-chave (incluindo painéis solares, implantes médicos e componentes de sistemas de energia verde, como turbinas eólicas e sistemas de veículos elétricos), sendo menos bioacumulativos (por exemplo, PFAS de cadeia curta). Os críticos alegam que uma proibição completa, sem distinção, pode levar à adoção de alternativas potencialmente inseguras ou a consequências ambientais inesperadas, como, por exemplo, a perda dos benefícios de certas substâncias PFAS (por exemplo, redução da emissão de gases de efeito estufa ou melhoria da eficiência energética).
Os defensores de uma abordagem mais refinada enfatizam que “a dosagem importa” e “a via de exposição importa”, argumentando que os PFAS devem ser diferenciados com base nas condições reais de aplicação, em parâmetros de saúde específicos e na possibilidade de danos reais, de modo que regulamentações baseadas em risco sejam formuladas, em vez de tratar indiscriminadamente todas as moléculas como inerentemente perigosas.
A proibição na Dinamarca de agrotóxicos PFAS específicos formadores de TFA é uma forte medida preventiva. No entanto, um debate científico mais amplo ressalta a complexidade da regulamentação de toda a categoria de produtos PFAS. Espera-se, eventualmente, que uma abordagem harmonizada da UE inclua uma classificação específica de PFAS baseada em risco, uma proibição priorizada da maioria das substâncias nocivas e persistentes (como substâncias formadoras de TFA) e, ao mesmo tempo, estabeleça um período de transição apropriado ou exclusões específicas para aplicações necessárias para as quais não haja alternativas disponíveis. Enquanto isso, a formulação dessas políticas deve considerar incentivos para encorajar o desenvolvimento inovador de substitutos mais seguros e livres de PFAS, o que promoverá uma transição sustentável, em vez de simplesmente impor proibições. Em conclusão, uma avaliação científica mais refinada e a diferenciação de políticas precisam ser consideradas em nível da UE.
Fonte: Agropage


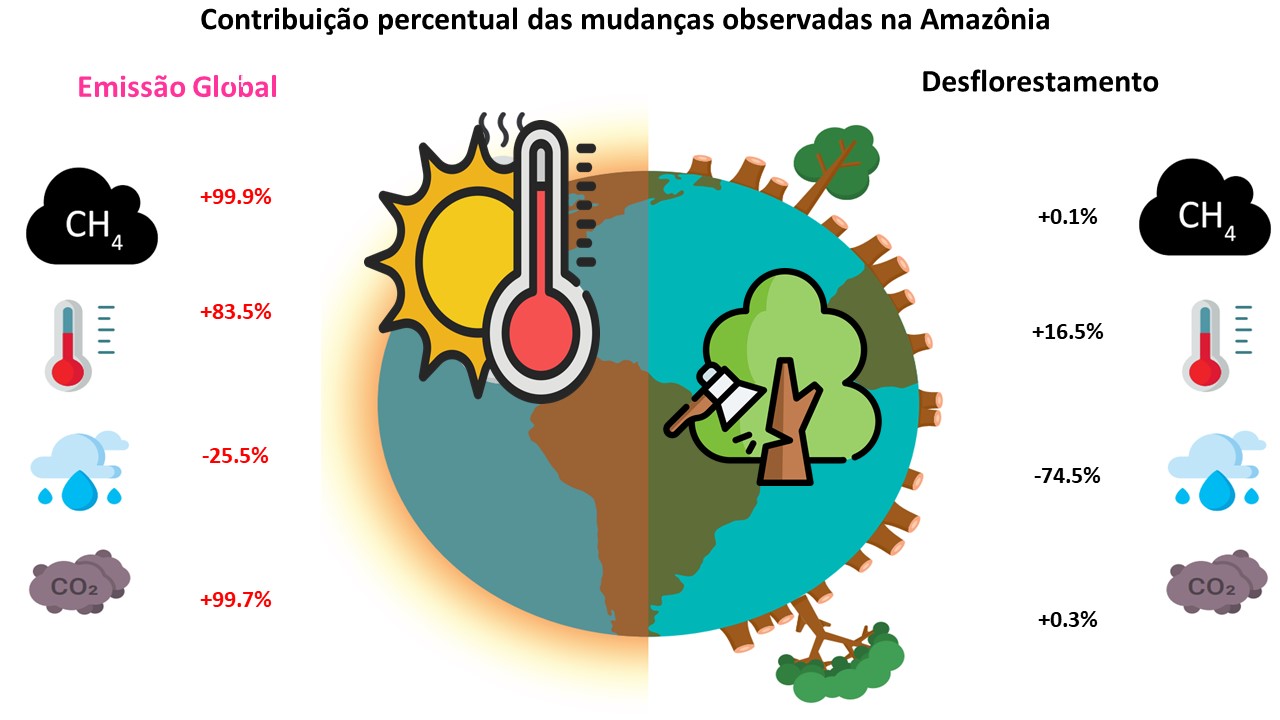


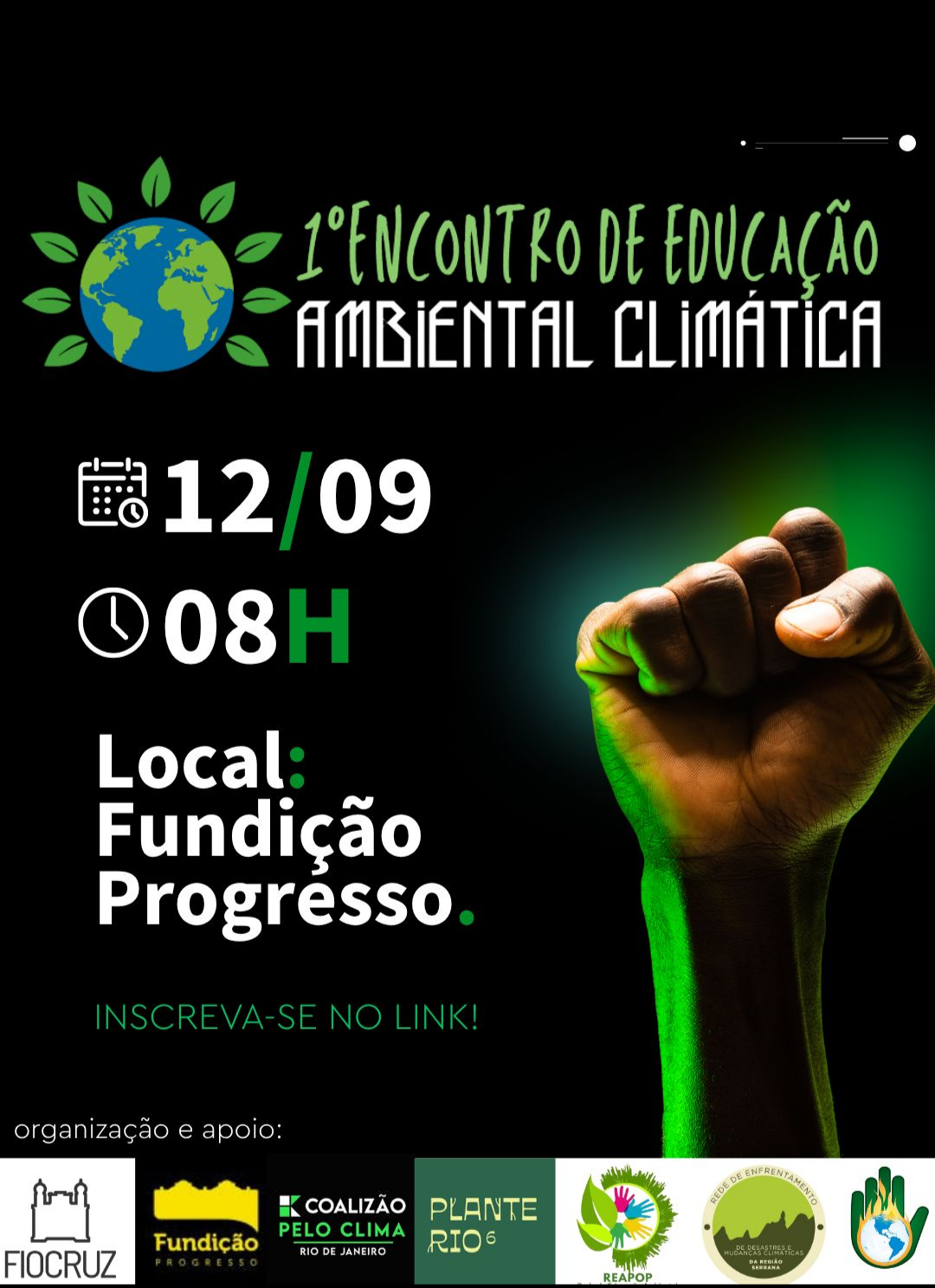
 12/09/2025
12/09/2025 Fundição Progresso – Arcos da Lapa, Rio de Janeiro
Fundição Progresso – Arcos da Lapa, Rio de Janeiro Programação:
Programação: Credenciamento + Café
Credenciamento + Café Rodas de Conversa:
Rodas de Conversa: Objetivos:
Objetivos: Discutir o colapso climático e seus impactos
Discutir o colapso climático e seus impactos Metodologia: rodas de conversa, oficinas, escuta ativa e construção coletiva.
Metodologia: rodas de conversa, oficinas, escuta ativa e construção coletiva.
 Inscrições:
Inscrições:  Um espaço de reflexão, articulação e ação frente o colapso climatizado. Realizado pela Coalizão pelo Clima e REAPOP, com apoio do Plante in Rio, Fundição Progresso, Redes Colaborativas da Região Serrana e Fiocruz.
Um espaço de reflexão, articulação e ação frente o colapso climatizado. Realizado pela Coalizão pelo Clima e REAPOP, com apoio do Plante in Rio, Fundição Progresso, Redes Colaborativas da Região Serrana e Fiocruz.



