O legado da ditadura militar brasileira: projetos de desenvolvimento continuados e um genocídio não resolvido dos povos indígenas
 Abrindo caminhos de destruição na floresta: construção de estradas na bacia amazônica no início da década de 1980
Abrindo caminhos de destruição na floresta: construção de estradas na bacia amazônica no início da década de 1980
Por Norbert Suchanek para o “JungeWelt”
Os generais que derrubaram o governo do atual presidente João Goulart no Brasil há uns bons 60 anos, em 31 de março de 1964, com o apoio de setores da sociedade civil e com a ajuda de operações secretas da CIA, governaram o maior país do Sul América por 21 anos. A ditadura militar caracterizou-se sobretudo por graves violações dos direitos humanos; aqueles que se opunham ao regime foram sujeitos a duras repressões, incluindo tortura e assassinatos.
Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV) brasileira publicado em 2014, os ditadores assassinaram ou desapareceram para sempre 434 não indígenas e 8.350 indígenas. Além disso, torturaram mais de 20 mil pessoas, segundo um estudo de 2019 da Human Rights Watch. No entanto, os historiadores assumem que o número real de pessoas assassinadas é muito maior, especialmente nas zonas rurais. A Comissão Independente da Verdade Rural do Brasil (CCV), fundada em 2012, concluiu em 2015 que pelo menos 1.196 pequenos agricultores foram vítimas do regime entre 1964 e 1985.
“Não foram apenas os opositores políticos e os activistas que sofreram com as políticas repressivas do regime”. “Toda a sociedade brasileira, talvez com exceção dos perpetradores, foi afetada por esta violência”, escreve Rogério Sottili, diretor do instituto de direitos humanos “Instituto Vladimir Herzog”, em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelos militares ditadura em 25 de outubro de 1975.
Derrubando a floresta tropical
O regime, apoiado pela inteligência dos EUA, não só agiu implacavelmente contra os membros da oposição do campo de esquerda, mas também contra os espaços de vida dos povos indígenas e dos grupos populacionais tradicionais. Foi o governo militar que lançou a destruição em grande escala do Cerrado central brasileiro e da floresta amazônica. Uma campanha de destruição florestal que os governos sucessores eleitos democraticamente continuaram até hoje em nome do “desenvolvimento”.
O regime incentivou a imigração de produtores agrícolas, como o futuro barão da soja Blairo Maggi, do sul do Brasil para as planícies da região do Cerrado, que antes era habitada por dezenas de povos indígenas, especialmente no estado de Mato Grosso, a fim de converter em um mar de campos de soja. Em 1965, o Brasil produziu 523,2 mil toneladas de soja. Em 1985 eram mais de 18 milhões de toneladas e hoje são quase 300 milhões de toneladas anuais. No Mato Grosso, a área cultivada com soja passou de doze hectares em 1970 para 795.438 hectares no final da ditadura. Esta área aumentou mais de dez vezes sob a nova democracia, atingindo hoje 12,13 milhões de hectares.
Outro legado vivo da ditadura militar é a construção de estradas e a destruição associada da floresta tropical na Amazônia. A mais conhecida é a construção da infame “Transamazônica” para assentar principalmente pequenos agricultores sem terra do nordeste e do sul da floresta amazônica, em vez de resolver o problema da distribuição injusta de terras. “Terra sem gente para gente sem terra” era o lema da época. O traçado de 4.260 quilômetros, oficialmente denominado BR-230 e inaugurado em 1972, foi um projeto do governo do general Emílio Garrastazu Médici.
Menos conhecida, mas ainda mais ameaçadora para a maior floresta tropical do mundo, é a rodovia federal BR-319, que deveria ligar Manaus a Porto Velho, e que corre paralela aos rios Purus e Madeira, e foi encomendada pelo regime militar no coração da região amazônica. As obras da rota da floresta tropical, inaugurada oficialmente em 1976, começaram em 1968. Mas apenas 20 anos depois, em 1988, a rodovia federal foi abandonada por razões econômicas e deixada à própria sorte. Desde 2015, esta trilha na floresta tropical voltou a ser parcialmente acessível durante a estação seca, graças a um novo programa de manutenção governamental. Se for totalmente restaurada e pavimentada, como pretendido pelo atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a BR-319 e suas estradas secundárias planejadas conectariam o infame “arco de desmatamento” do já fortemente desmatado sul da Amazônia com Manaus. Os atores da destruição florestal, como os especuladores de terras, as empresas madeireiras, os criadores de gado e a agricultura industrial, poderiam avançar ao longo da rota asfaltada. Isto ameaçaria a preservação do último grande bloco intacto de floresta tropical na bacia amazônica brasileira.
Mas sem uma floresta tropical intacta na Amazónia Central, grandes partes do Brasil poderiam ficar altas e secas, teme o investigador climático e amazónico Philip Martin Fearnside, que descreve a BR-319 como a pior ameaça atual para toda a região Amazônica e mais além. Seu asfaltamento poderia levar a um aumento de cinco vezes no desmatamento da floresta tropical até 2030 e causar o colapso de todo o ecossistema amazônico. O cientista, que pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, em Manaus, desde 1978, tem certeza de que os prejuízos para o Brasil seriam enormes.
O lema “Ocupar para não perder” foi o fio condutor da ditadura militar para a construção das primeiras estradas terrestres amazônicas, como a BR-319, para ocupar as áreas povoadas por indígenas, mas, na opinião dos generais, “desertado” com os brasileiros e, portanto, uma possível tentativa de impedir a tomada de poder por potências estrangeiras, diz Fearnside. Ironicamente, hoje a BR-319 pavimentada facilitaria a exploração dos recursos naturais da Amazônia por interesses estrangeiros, particularmente pela empresa petrolífera russa Rosneft, que já adquiriu concessões do estado brasileiro na região da floresta tropical.
Energia hidrelétrica destrutiva
Outro legado da ditadura militar são os megalomaníacos planos hidroeléctricos e de barragens na bacia amazónica para “desenvolver” e industrializar a região. Em 1974, os generais iniciaram a construção da primeira megabarragem da Amazônia, no Rio Tucuruí. A hidrelétrica de mesmo nome, com reservatório gigante de 2.875 quilômetros quadrados, foi finalmente inaugurada em 1984, o que ecologistas e protetores de florestas tropicais de todo o mundo denunciaram na época como um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil.
Graças à resistência obstinada e apoiada internacionalmente do povo indígena Kayapó contra a usina hidrelétrica de Altamira, no rio Xingu, que também foi planejada na década de 1970 e mais tarde rebatizada de Belo Monte, os grandiosos planos militares de barragens na bacia amazônica desapareceram novamente. a gaveta. Foi apenas Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), quem tirou do armário os planos hidrelétricos durante seu primeiro mandato como presidente brasileiro. Foi assim que foram construídas as megabarragens Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e Belo Monte, no Rio Xingu, sob os governos petistas de Lula e sua sucessora Dilma Rousseff, financiadas com bilhões de dinheiro e dívidas dos contribuintes, apesar de todos os protestos dos indígenas. e ativistas ambientais.
Planos de energia nuclear militar
A situação é semelhante com o programa nuclear brasileiro, outro legado da ditadura, que também está intimamente ligado ao então governo federal alemão. Embora a pesquisa nuclear já existisse no Brasil desde a década de 1930, foi somente com o golpe militar de 1964 que o programa nuclear começou a decolar. Os militares não queriam apenas produzir electricidade a partir da energia nuclear, mas sim tornar-se uma potência nuclear e dominar toda a cadeia atómica: desde a extracção de urânio e o enriquecimento de urânio até aos submarinos nucleares e à bomba atómica. Para esse programa de armas nucleares, ainda secreto na época, os generais já estavam de olho e desenvolveram um local para testes subterrâneos: uma base da Força Aérea Brasileira na Serra do Cachimbo, na região amazônica do estado de Pára.
Mas para concretizar estes sonhos de grande potência, era necessário um reactor nuclear funcional. A ditadura comprou-o nos EUA em 1972 à Westinghouse com uma produção de 627 megawatts. A usina nuclear foi construída com o nome de Angra 1 no litoral sul do Rio de Janeiro, no território do povo Guaraní-Mbyá, nativo da região. Três anos depois, o então presidente brasileiro Ernesto Geisel assinou um acordo abrangente sobre cooperação nuclear com a República Federal. Dentro de 15 anos, oito usinas nucleares alemãs seriam construídas no Brasil pela Kraftwerk Union AG, uma cooperação entre AEG e Siemens. Além disso, o acordo também previa a exploração de jazidas de urânio e o desenvolvimento do enriquecimento de urânio e também considerava o reprocessamento de combustível nuclear.
A primeira mina de urânio do Brasil iniciou suas operações em 1982, no estado de Minas Gerais. A primeira usina nuclear, Angra 1, entrou em operação em 1985. A construção da segunda usina nuclear, Angra 2, iniciada em 1981, demorou um pouco mais. Devido à falta de fundos, o primeiro governo civil de transição interrompeu temporariamente o projecto em 1986. Somente no final de 1994 as obras de construção de Angra 2 foram retomadas, e a usina nuclear conseguiu gerar eletricidade pela primeira vez sete anos depois, no início de 2001. O terceiro reator nuclear planejado da Alemanha e já adquirido pelos militares, o Angra 3, foi trazido em navios de Hamburgo para o Brasil em 1984, mas nunca foi construído. A tecnologia das usinas nucleares permaneceu desativada na zona sul do Rio de Janeiro por décadas.
Lula e a energia nuclear
O presidente Lula se lembrou da central nuclear desactivada durante o seu primeiro mandato e surpreendentemente reviveu o programa nuclear congelado da ditadura a um custo de milhares de milhões – para deleite dos militares. Em 2007 anunciou que concluiria Angra 3 e construiria mais usinas nucleares. O Brasil possui todos os requisitos básicos para completar o ciclo nuclear. Não deveria mais faltar dinheiro, disse Lula da Silva à mídia na época. O Brasil se tornará, assim, um dos poucos países do mundo que domina todo o processo de enriquecimento. O presidente de esquerda até iniciou a construção do primeiro submarino nuclear sul-americano, sonho de longa data da Marinha do Brasil.
Talvez tenha sido precisamente este legado dos ditadores de direita que ele aceitou que levou Lula a colocar agora um ponto final na história e a não comemorar o 60º aniversário do golpe militar de Março passado. Ele até proibiu seu Ministério Federal de Direitos Humanos de realizar um evento memorial planejado com o título: “Sem memória não há futuro”. O presidente brasileiro disse em entrevista à televisão que não queria mais “mexer” no passado e acrescentou: “ Para ser sincero, não direi: “Continuaremos a abordar o assunto, mas sim tentaremos fazer este país avançar”. Em fevereiro anterior, Lula já havia afirmado em entrevista que o golpe era coisa do “passado” e que. ele não queria ter que se lembrar sempre disso. Segundo pesquisa do Datafolha, 59% dos brasileiros apoiaram a proibição imposta por Lula às comemorações do golpe de 1964.
No entanto, vítimas da ditadura e ativistas dos direitos humanos manifestaram-se em São Paulo e em outros locais do Brasil para assinalar o aniversário. Centenas deles gritavam “Chega de ditadura!” e “Punições para os generais!” Os manifestantes em São Paulo exigiram a punição dos golpistas, torturadores, estupradores e assassinos que ainda estavam protegidos de uma punição justa pela lei de anistia de 1979. O governo também deveria prosseguir uma política de memória e restabelecer a prometida comissão especial para os mortos e desaparecidos da ditadura.
Genocídio impune
Um capítulo particularmente sombrio e ainda não resolvido da ditadura é o genocídio dos povos indígenas do Brasil, especialmente na região do Cerrado e na Amazônia. Até hoje, os crimes cometidos contra os povos indígenas naquela época permanecem em grande parte obscuros e os perpetradores permanecem foragidos e impunes. Por exemplo, a construção da rodovia federal perimetral BR-210, que liga os estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, no norte da Amazônia, teria trazido “devastação, violência, fome, doenças e a morte de milhares de Yanomami”. ”. O número exato de vítimas não é conhecido. A Comissão Nacional da Verdade estima vários milhares de vítimas entre o povo Yanomami.
O mais importante e primeiro documento até o momento que lista inúmeras violações de direitos humanos contra os povos indígenas durante o governo militar é o chamado Relatório Figueiredo de 1968, que ficou perdido 45 anos após sua conclusão. O relatório original de 7.000 páginas do procurador-geral Jader de Figueiredo Correia foi encomendado pelo ministro do Interior, general Albuquerque Lima, durante a ditadura, com o objetivo real de expor a corrupção na Autoridade Indígena da Funai.
Correia viajou mais de 16 mil quilômetros pelo Brasil com sua equipe de investigação. Eles viram um horror de proporções bíblicas. Nas cerca de 5 mil páginas do relatório, redescobertas no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, em 2013, Figueiredo Correia escreve sobre o extermínio de povos inteiros, torturas e todo tipo de atrocidades cometidas contra a população indígena, principalmente por grandes proprietários de terras e funcionários do Estado: assassinatos, prostituição forçada, trabalho escravo. O promotor também relatou caçadas humanas, com indígenas sendo metralhados de aviões ou explodidos com dinamite. Diz-se que populações indígenas isoladas foram deliberadamente infectadas com varíola mortal ou envenenadas com açúcar misturado com estricnina.
Segundo documentos do Congresso Nacional, segundo Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo de pesquisa paulista “Chega de Tortura”, havia cerca de 300 mil indígenas no Brasil em 1963. Cinco anos depois, em 1968, havia apenas 80 mil. O que aconteceu com os 220 mil indígenas não registrados?
Não está incluído nessas estatísticas de 1968 o sofrimento dos Waimiri Atroari, que se autodenominam Kinja: sua área tribal fica entre os estados do Amazonas e Roraima, no norte da Amazônia, exatamente onde os militares bloquearam a rodovia federal BR-174 de Manaus a Boa Vista e Venezuela, a exploração de minerais e a “absurda” hidrelétrica econômica e ecologicamente “absurda”. Os povos indígenas atrapalharam o “modelo progressista” dos ditadores e, portanto, mataram quase 90 por cento desses povos indígenas. Segundo o cofundador do Conselho Missionário Indígena Católico (Cimi), Egydio Schwade, que atuou na região na década de 1970, a planejada hidrelétrica de Balbina, da Eletronorte, e a pretendida exploração de minérios na região pela mineradora Mineração Taboca , fundada em Pitinga em 1968, teve participação ativa no genocídio do povo Waimiri Atroari.
Os estudos do projeto da barragem de Balbina, concluído em 1987, tiveram início em 1968. Naquela época, existiam pelo menos oito aldeias indígenas na parte sul do território indígena, na área do atual reservatório de Balbina, com 2.360 quilômetros quadrados, diz Schwade. Outras nove aldeias Kinja desapareceram na área da atual mina de Pitinga, na zona norte. Em 1972, a Funai contava com cerca de três mil Kinja em seus territórios ao norte de Manaus. Em 1983, apenas 350 deles ainda estavam vivos porque não se deixaram expulsar voluntariamente das suas áreas tribais. O que exatamente aconteceu entre 1968 e 1983 ainda não foi totalmente revelado.
O certo é que os indígenas resistiram desde o início às obras de construção de estradas, como se pode ler no livro “História da Amazônia” do historiador brasileiro Márcio Souza. Em 1973, uma tentativa de contato teria culminado na morte de quatro funcionários da Autoridade Indígena da Funai. Um ano depois, os Kinja teriam matado quatro madeireiros contratados do Maranhão, no Nordeste do Brasil, porque estavam derrubando árvores em seu território para a construção de estradas. Na época, a mídia noticiou o “massacre dos Maranhenses”. Mesmo assim, os militares não desistiram do projeto da BR-174. A estrada era importante e precisava ser concluída a todo custo, disse na época um coronel do sexto batalhão de engenharia e construção da ditadura. Como resultado, os indígenas rebeldes foram simplesmente bombardeados e baleados, de acordo com o primeiro relatório publicado em 2012 pela Comissão Estadual da Verdade do estado federal do Amazonas. De acordo com relatos de sobreviventes, as aldeias Waimiri Atroari também foram bombardeadas com pólvora “semelhante a poeira” de aeronaves.
Os afetados tinham medo de falar sobre os massacres; era proibido, diz o antropólogo Stephen Grants Baines. Mesmo assim, os indígenas relataram aviões voando sobre suas cabeças e poeira caindo. E que eles respiraram essa poeira e como resultado pessoas morreram. “Portanto, é muito provável que tenham jogado veneno ou gás para destruir a população”, disse Baines em entrevista de 2019 à Universidade Estadual de Roraima (UFRR). O antropólogo iniciou suas pesquisas em 1982 na área Waimiri Atroari até ser proibido pelo governo e pela Funai. Baines: “Quando cheguei (para a região) em janeiro de 1982, a Mineração Taboca já estava lá explorando e minerando as jazidas de minério. Já vi a poluição do rio Alalaú e seus afluentes que vinha da área de mineração da Taboca. Os resíduos da mina Pitinga amarelaram o Alalaú. Hoje Pitinga é considerada um dos maiores produtores mundiais de estanho”. Além da matéria-prima primária estanho, também produz tântalo, nióbio e urânio em mineração a céu aberto, segundo o relatório “Matérias-primas estratégicas, projetos e oportunidades de negócios para empresas alemãs” da Câmara de Comércio e Indústria Teu-Brasileira de São Paulo. Paulo e a Agência Alemã de Matérias-Primas (Dera-BGR) o ano de 2019. A produção de estanho em Pitinga em 2018 foi de cerca de 7 mil toneladas.
Assim como os Kinja, muitos outros povos indígenas foram um obstáculo desagradável à colonização e ao desenvolvimento industrial e, sobretudo, aos grandes proprietários de terras e empresas agrícolas que se apropriavam cada vez mais de terras no centro e norte do Brasil, razão pela qual, além de assassinatos , o reassentamento forçado também fazia parte da tarefa dos generais. Talvez o exemplo mais marcante disso seja o dos Xavante de Marãiwatsédé, no Mato Grosso. Em 1966, por atrapalharem o grande proprietário paulista Ariosto da Riva, que se apropriara de cerca de 800 mil hectares de terras na região, os militares obrigaram os últimos 263 Xavantes de Marãiwatsédé a embarcar em um avião de transporte da Força Aérea e os levaram na estação missionária da Ordem Salesiana de São Marcos, a 400 quilômetros de distância. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, 83 deles morreram pouco depois de chegarem à missão, em consequência de um surto de sarampo. Um pouco mais tarde, em 1971, Ariosto da Riva vendeu com lucro as terras agora “livres de índios” para a empresa italiana Liquifarm.
Alguns dos Xavante de Marãiwatsédé sobreviveram à ditadura e ao proselitismo. Hoje, em 2024, eles lutam contra a continuação e asfaltamento da rodovia federal BR-080, de Brasília ao Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, porque ameaça um de seus lugares mais sagrados. O agronegócio, porém, considera a BR-080 necessária para escoar a safra crescente de soja da região do Araguaia.
*Norbert Suchanek viajou ao Brasil pela primeira vez em 1987, durante o período de transição da ditadura militar para a democracia. Um dos primeiros relatórios que publicou na Alemanha foi sobre o desmatamento e a destruição da floresta amazônica nessa época. O jornalista, autor e cineasta de Würzburg trabalha como correspondente estrangeiro no Rio de Janeiro desde 2006.

Fonte: JungeWelt


 A mineração legal e ilegal causa grandes danos na Colômbia (Magüí Payán, 20 de abril de 2021)
A mineração legal e ilegal causa grandes danos na Colômbia (Magüí Payán, 20 de abril de 2021)



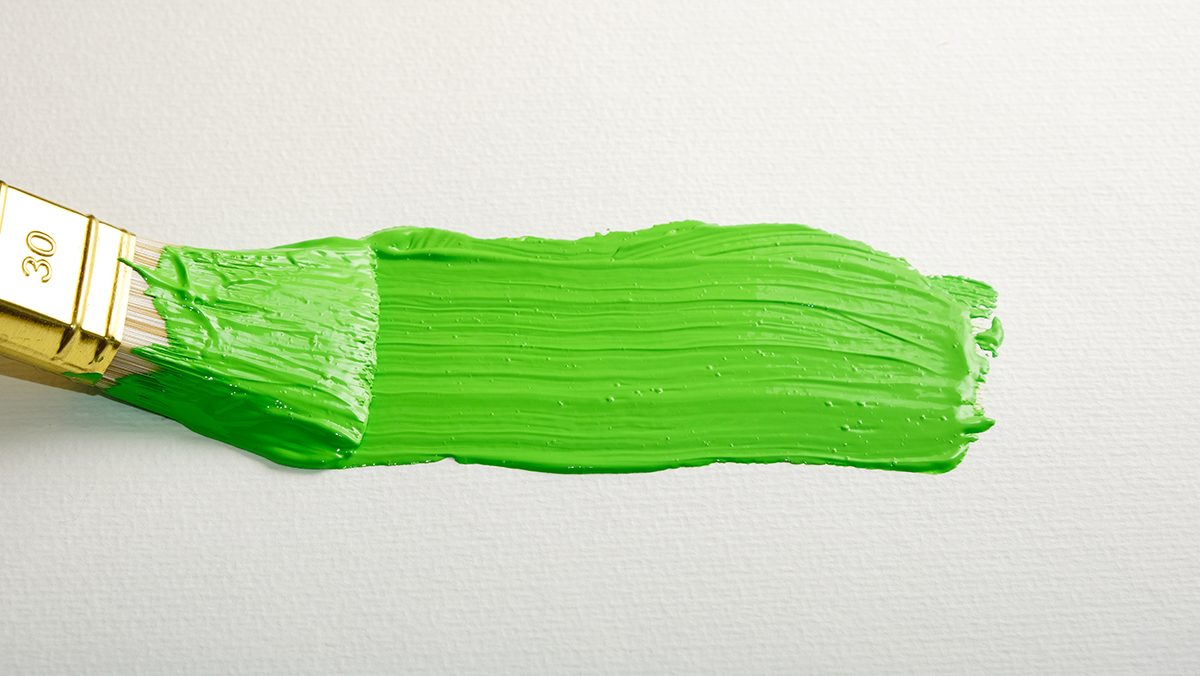


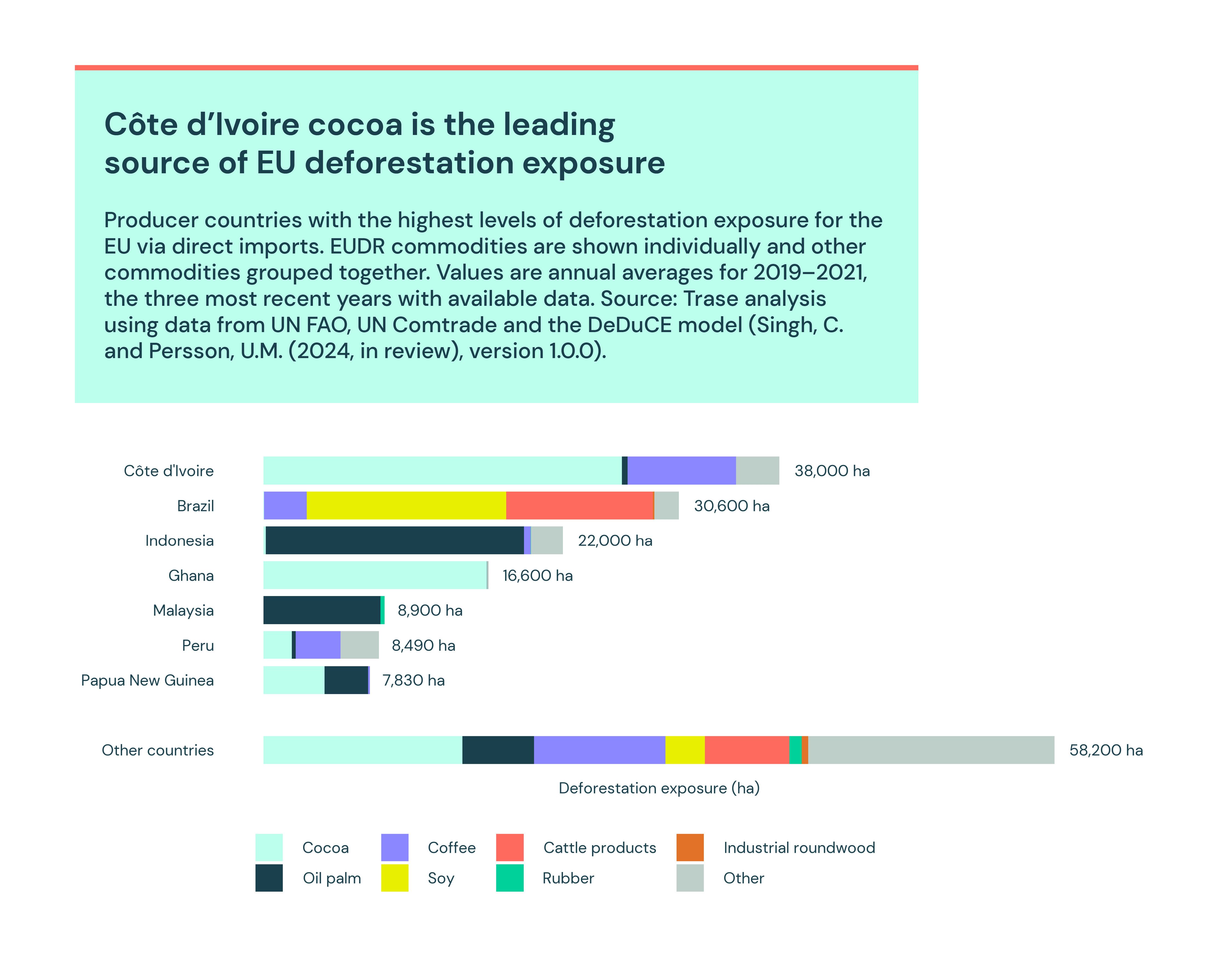
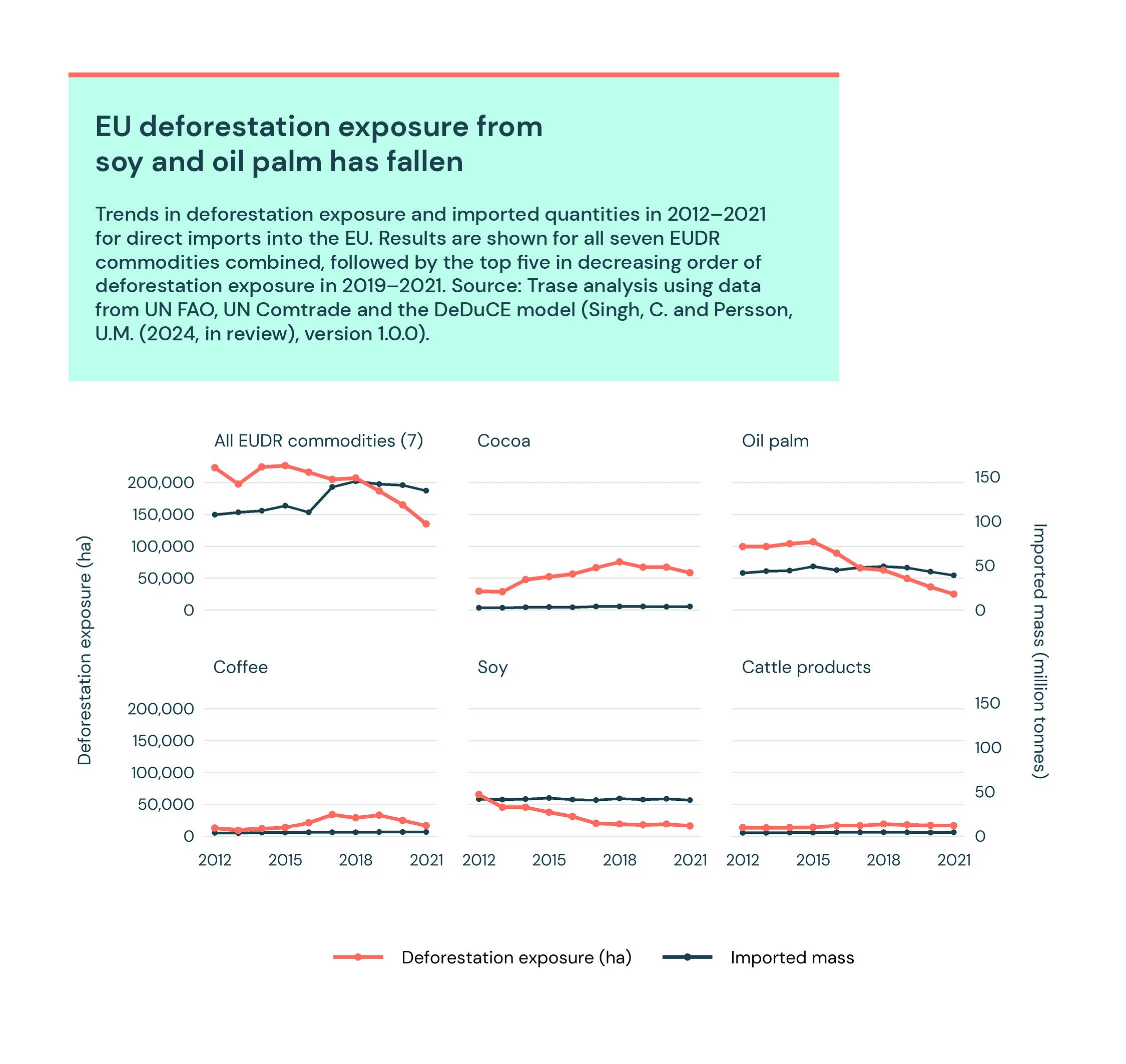
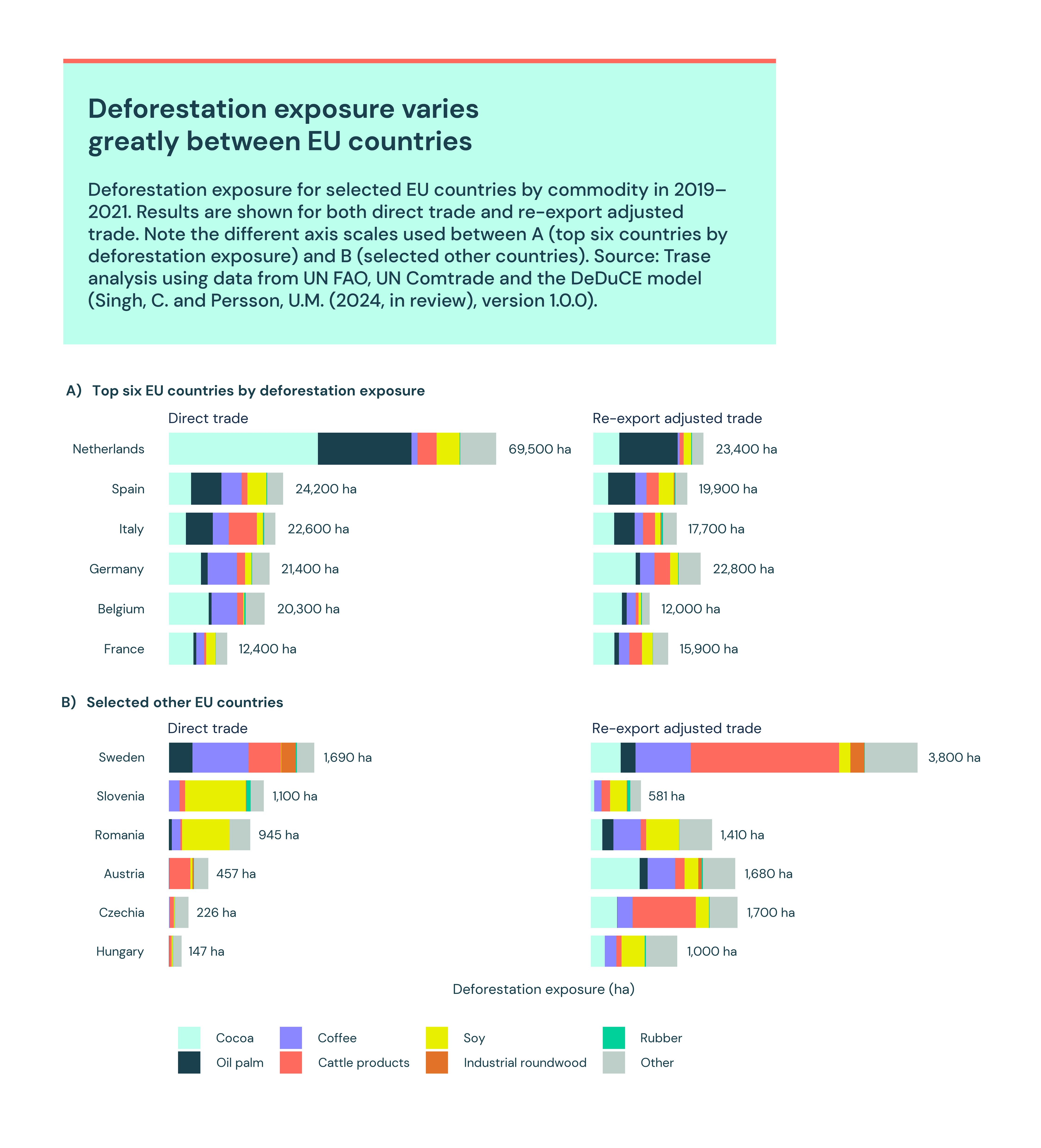
 Abrindo caminhos de destruição na floresta: construção de estradas na bacia amazônica no início da década de 1980
Abrindo caminhos de destruição na floresta: construção de estradas na bacia amazônica no início da década de 1980
