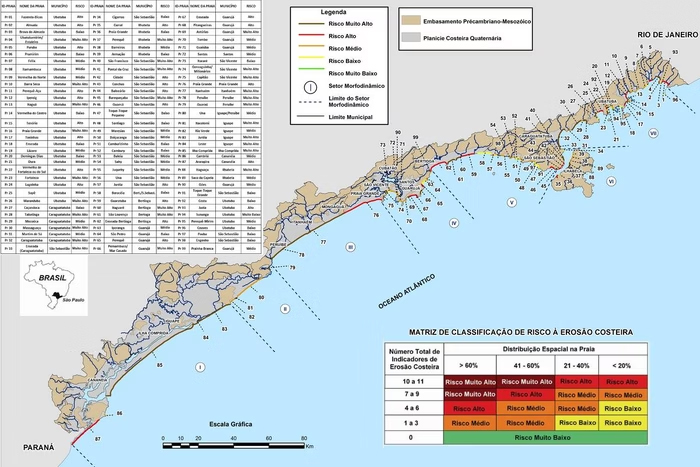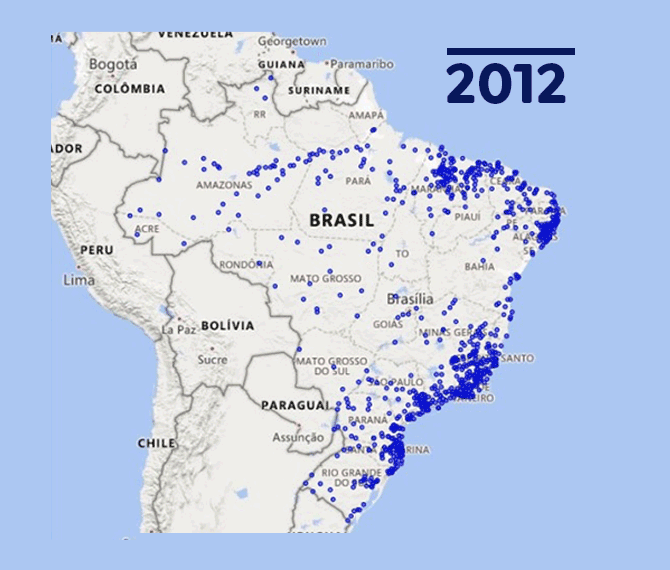Os pequenos agricultores e os povos indígenas sofrem particularmente com a exploração do patrimônio natural mundial. No entanto, eles não estão presentes na mesa de negociações da Conferência Mundial do Clima
Por Knut Henkel para o “Neues Deutschland”
Maria Ivete Bastos dos Santos vive no coração da floresta amazônica . Macacos-esquilo, jacarés e um mar de vegetação fazem parte do cotidiano dessa agricultora sindicalizada – assim como a luta pela terra e contra o desmatamento ilegal , que ameaça seriamente seu sustento.
Uma vez por semana, Bastos monta sua barraca no mercado de produtos orgânicos em frente à Universidade de Santarém. Ela vende frutas, farinha de mandioca, cacau e muito mais – tudo o que ela e o marido cultivam em sua pequena fazenda na região de Aninduba. A travessia de balsa pelo Amazonas leva três horas: da remota vila no coração da floresta tropical até Santarém , a segunda maior cidade da bacia amazônica depois de Manaus, com mais de 300 mil habitantes.
“Cerca de 50 famílias vivem aqui, e existem dezenas de aldeias e várias comunidades indígenas na região que utilizam a floresta tropical de forma sustentável”, explica a mulher de 58 anos. “Mas a pressão é grande.” Ela franze a testa.
Lago Grande é o nome da região no estado brasileiro do Pará, cortada por rios, lagos e pântanos, que conta com uma balsa diária desde 2016. Para o representante sindical que defende os interesses dos pequenos agricultores, essa ligação de transporte é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição.
Uma maldição, porque uma ligação por ferry – tal como uma estrada ou uma linha férrea – abre regiões inteiras à exploração dos seus recursos naturais. “Empresas madeireiras, produtores de soja, mas também empresas de mineração e petróleo estão de olho na nossa região. Já registrei queixas várias vezes quando camiões são transportados para fora da região do Lago Grande carregando madeiras preciosas como copaíba ou cumaru.”
Maria Ivete Bastos dos Santos, agricultora e ativista na floresta amazônica brasileira. Foto: Knut Henkel
Para representar os interesses dos pequenos agricultores, ela viaja regularmente a Santarém. A ligação de ferry é uma mais-valia para ela: agora consegue chegar mais rapidamente à sede do sindicato ou ao mercado biológico em frente à universidade. Hoje, decorre ali uma conferência que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP 30), onde a comunidade internacional se reunirá em Belém de 6 a 21 de novembro. Na conferência em Santarém, organizações da sociedade civil e representantes indígenas preparam-se para este evento global.
Como presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Santarém, Maria Ivete Bastos dos Santos chama a atenção para a crescente pressão enfrentada pelas comunidades e grupos indígenas: “O cultivo de soja na região é um problema tão grande quanto a iminente concessão de terras da floresta tropical para mineração ou extração de petróleo”, explica. “O Estado praticamente não tem presença aqui — e quando tem, geralmente fica do lado da indústria e do agronegócio.” Por expressar suas críticas abertamente, essa mulher vibrante de cabelos grisalhos já recebeu inúmeras ameaças — um destino que compartilha com muitos ativistas ambientais e de direitos à terra no Brasil.
Alessandra Korap também conhece bem a hostilidade. Aos 42 anos, com tatuagens marcantes nos braços e pernas, ela é porta-voz do povo indígena Munduruku, que vive no estado do Pará. Desde 22 de março de 2004, eles detêm formalmente um título coletivo de terras que abrange 2.381.000 hectares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu-lhes esses direitos na época – uma área que engloba quase um terço do estado alemão da Baviera. Embora seja um passo importante, ela acredita que está longe de ser suficiente.
Os rios estão secando
“Já estamos vivenciando a crise climática. Os rios estão desaparecendo; mesmo em Santarém, na Amazônia, houve muitos trechos secos no ano passado. Os peixes estão morrendo devido às altas temperaturas e à falta de oxigênio na água.” Isso precisa estar na pauta da conferência climática, exige ela, e critica o fato de que os verdadeiros especialistas – os povos indígenas – praticamente não têm participação na COP 30.
Alessandra Korap, assim como muitos outros indígenas da região, não recebeu convite para a Conferência Mundial do Clima. Sindicatos e organizações não governamentais também estão excluídos do importante evento. “Isso é uma grande injustiça. Mesmo assim, viajarei para Belém em nome do meu povo para chamar a atenção para a nossa situação”, enfatiza.
Ela compartilha suas críticas ao Estado brasileiro com diversas organizações da sociedade civil, sindicatos, organizações não governamentais e comunidades indígenas. Embora muito se fale sobre a proteção da floresta amazônica, muito pouco está sendo feito, argumenta ela. As consequências dessa inação já são claramente visíveis: “O equilíbrio natural de seis meses de chuva e seis meses de seca não existe mais. Costumava ser diferente.” Isso tem consequências de longo alcance para os pescadores. “Durante a época das cheias, as árvores dão frutos que caem na água. Os peixes os comem, engordam, desovam e se reproduzem.” Hoje, no entanto, os rios — o Amazonas, mas também o Rio Tapajós, onde vivem os Munduruku — raramente transbordam. Como resultado, os frutos caem em terra seca, os peixes não conseguem mais alcançá-los e as cotas de pesca estão diminuindo visivelmente.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começa no Brasil em 6 de novembro – bem no coração de um país onde a floresta amazônica está desaparecendo em um ritmo alarmante. Nossa série mostra a rapidez com que o desmatamento está progredindo – e quais soluções existem para práticas econômicas sustentáveis.
Além disso, não apenas os produtores de soja estão invadindo áreas protegidas no estado do Pará, mas também empresas de mineração e petróleo estão buscando depósitos de matérias-primas como bauxita, cobre e petróleo. A comunidade da sindicalista Maria Ivete Bastos dos Santos, em Aninduba, pouco pode fazer para combater isso. Embora os moradores tenham documentado que vivem em uma região de floresta tropical intacta há várias décadas, eles não possuem títulos de propriedade de terras como as comunidades Munduruku.
Maria Ivete Bastos dos Santos cresceu na aldeia; ela enterrou seus pais no pequeno cemitério. Muitas famílias vivem ali há gerações, mas quase não têm direitos sobre a terra que cultivam. “Documentar que as comunidades vivem nessas regiões há muito tempo e têm um direito legítimo à terra é extremamente complexo — ainda mais difícil para as comunidades indígenas entenderem do que para nós”, critica ela. “Sem títulos de propriedade, é praticamente impossível defender a área que habitamos na justiça contra as reivindicações de empresas agroindustriais ou de mineração.”
Um porto para exploração
Os produtores de soja vêm invadindo áreas de floresta tropical há muito tempo, desmatando e estabelecendo novas plantações. Mas empresas de mineração, como a gigante do alumínio Alcoa, também estão de olho na região amazônica. A corporação americana possui três unidades no Brasil. A pequena cidade de Juruti, com seu porto onde a bauxita de uma mina da Alcoa é carregada e transportada pelo rio Amazonas, fica a apenas cerca de 350 quilômetros rio acima.
“Sabemos que a Alcoa coletou amostras de solo em diversas comunidades ao redor de Aninduba. Há pedidos pendentes para coleta de amostras aqui também. Estamos protestando contra isso”, explica dos Santos. O representante comunitário Joaci Silva de Souza, que vende mel em uma barraca próxima, concorda com a cabeça. Ele assumiu o cargo de representante comunitário do representante sindical. Ambos temem que a Alcoa — a terceira maior produtora de alumínio do mundo — já tenha solicitado uma concessão para extrair bauxita. “Não sabemos disso porque as autoridades não são muito transparentes. Simplesmente não somos informados, principalmente porque não temos título de propriedade oficial”, reclama Joaci Silva de Souza.
Portanto, o município se baseia em informações de organizações ambientais como o Greenpeace ou a Associação Pastoral Rural Católica, que assessora diversos municípios e, às vezes, também oferece representação legal. Isso frustra de Souza. Ele cita o exemplo do leilão de licenças de extração no estuário do Amazonas e no interior da Amazônia, realizado pelo governo em junho deste ano. “O governo está focando na exploração de recursos naturais – apesar de todas as críticas à abordagem da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva”, afirma de Souza.
Quem critica essa prática e as pessoas que lucram com ela vive em perigo no Brasil. Em março passado, Maria Ivete Bastos dos Santos escapou por pouco de ser atropelada por um carro em alta velocidade no trânsito de Santarém, ao realizar um salto ousado. A polícia ofereceu-lhe proteção, mas ela recusou.
Alessandra Korap e outros ativistas indígenas do estado do Pará também estão familiarizados com situações semelhantes. “Minha confiança nas forças de segurança do estado não é particularmente alta”, diz Ronaldo Amanayé, da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa). “Prefiro cuidar da minha própria segurança.” Ele acrescenta — em voz baixa, quase sussurrada — que há muitos casos em que informações foram repassadas das forças de segurança para produtores de soja, mineradoras ou garimpeiros.
Para ele também, a conferência preparatória deixou uma coisa clara: ele estaria presente em Belém e representaria a perspectiva das comunidades indígenas. Não há alternativa para ele – uma avaliação compartilhada por Maria Ivete Bastos dos Santos. Ela está desmontando sua barraca no mercado em frente à entrada principal da universidade. Daqui a uma hora, a balsa parte para Aninduba. Depois, são três horas de viagem de volta para a floresta tropical – onde a luta por terra e futuro começou há muito tempo.
Fonte: Neues Deutschland