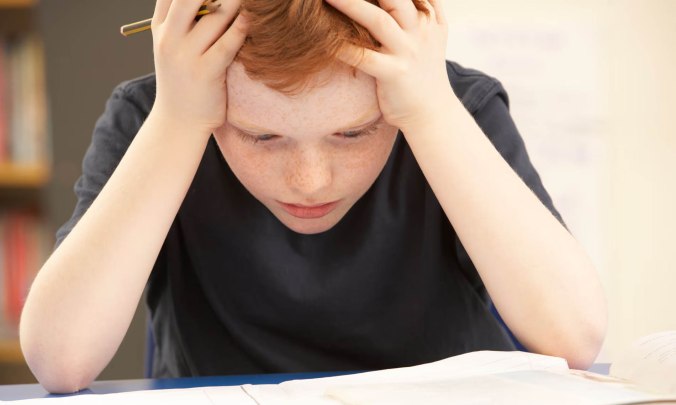Para uma “leitura mais profunda” entre crianças de 10 a 12 anos, o papel supera as telas. O que significa quando as escolas estão se tornando digitais?
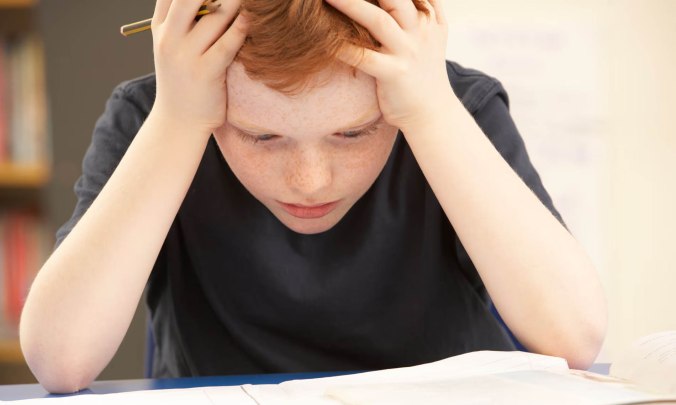 ‘Pesquisas científicas rigorosas mostram que o método antiquado do papel é melhor para ensinar as crianças a ler.’ Fotografia: MBI/Alamy
‘Pesquisas científicas rigorosas mostram que o método antiquado do papel é melhor para ensinar as crianças a ler.’ Fotografia: MBI/Alamy
Por John R MacArthur para o “The Guardian”
O colapso nacional nas pontuações de leitura entre os jovens americanos captou recentemente a atenção – se não a preocupação – de redatores de manchetes, educadores e burocratas governamentais.
A pesquisa mais recente do Departamento de Educação, divulgada em junho, foi certamente sensacional: descobriu que as habilidades de compreensão de texto de crianças de 13 anos diminuíram em média quatro pontos desde o ano letivo de 2019-2020, afetado pela Covid-19, e de forma mais alarmante. que a queda média foi de sete pontos em comparação com o valor de 2012. Os resultados para os alunos com pior desempenho ficaram abaixo do nível de habilidade de leitura registrado em 1971, quando foi realizado o primeiro estudo nacional.
Não é de surpreender que a culpa por estas notícias sombrias tenha sido atribuída pelos políticos aos alvos mais fáceis e mais óbvios – a Covid-19 e o confinamento resultante. O aprendizado remoto era ruim para os alunos, segundo funcionários do governo Biden, então a pandemia deve ser o principal vilão. Os conservadores não discordam, mas preferem culpar os sindicatos de professores por encorajarem os seus membros a ensinar remotamente – para eles um vilão maior do que a Covid-19 é o presidente da Federação Americana de Professores, Randi Weingarten, um poderoso democrata que fez lobby com sucesso para prolongar o encerramento das escolas.
Nem os burocratas nem os críticos do sindicato dos professores estão errados, é claro. O bom senso diz-nos que uma criança sozinha no seu quarto, olhando para a imagem de um professor na tela do computador (com um smartphone à mão, mas escondido da vista do professor), não está totalmente focada na aprendizagem.
Mas embora todos lamentem o confinamento, curiosamente tem havido pouca discussão neste debate sobre o objeto físico que a maioria das crianças usa para ler, que, desde muito antes da chegada da Covid, tem sido cada vez mais uma tela iluminada exibindo tipos pixelados em vez de impressos ou fotocopiados. texto. E se o principal culpado pela queda da alfabetização no ensino médio não for um vírus, nem um líder sindical, nem a “aprendizagem remota”?
Até recentemente, não houve resposta científica para esta questão urgente, mas um estudo inovador, a ser publicado em breve, realizado por neurocientistas do Teachers College da Universidade de Columbia, revelou-se decisivamente sobre o assunto: para uma “leitura mais profunda”, há uma vantagem clara em ler um texto no papel, e não em uma tela, onde se observou “leitura superficial”.
Usando uma amostra de 59 crianças com idades entre 10 e 12 anos, uma equipe liderada pela Dra. Karen Froud pediu aos participantes que lessem textos originais em ambos os formatos enquanto usavam redes de cabelo cheias de eletrodos que permitiram aos pesquisadores analisar variações nas respostas cerebrais das crianças. Realizado num laboratório do Teachers College com controlos rigorosos, o estudo utilizou um método inteiramente novo de associação de palavras, no qual as crianças “realizavam tarefas de julgamento semântico de uma única palavra” depois de lerem as passagens.
Vital para a utilidade do estudo foi a idade dos participantes – um período de três anos que é “crítico no desenvolvimento da leitura” – uma vez que a quarta série é quando ocorre uma mudança crucial do que outro pesquisador descreve como “aprender a ler” para “aprender a ler”. lendo para aprender”.
Froud e a sua equipa são cautelosos nas suas conclusões e relutantes em fazer recomendações duras para o protocolo e currículo da sala de aula. No entanto, os investigadores afirmam: “Achamos que os resultados deste estudo justificam juntar as nossas vozes ao sugerir que ainda não devemos deitar fora os livros impressos, uma vez que pudemos observar na nossa amostra de participantes uma vantagem na profundidade do processamento ao ler a partir de livros impressos. imprimir.”
Eu iria ainda mais longe do que Froud ao delinear o que está em jogo. Durante mais de uma década, cientistas sociais, incluindo a acadêmica norueguesa Anne Mangen, têm relatado a superioridade da compreensão e retenção da leitura no papel. Como diz a equipa de Froud no seu artigo: “A leitura de textos expositivos e complexos em papel parece estar consistentemente associada a uma compreensão e aprendizagem mais profundas” em toda a gama da literatura científica social.
Mas o trabalho de Mangen e de outros não influenciou os conselhos escolares locais, como o de Houston, que continuam a descartar livros impressos e a fechar bibliotecas em favor de programas de ensino digital e dos Google Chromebooks. Embriagados com o realismo mágico e as promessas exageradas da “revolução digital”, os distritos escolares de todo o país estão a converter-se avidamente para programas informatizados de realização de testes e de leitura de ecrãs, no preciso momento em que pesquisas científicas rigorosas mostram que o antiquado método do papel é melhor para ensinar as crianças a ler.
Na verdade, para os impulsionadores da tecnologia, a Covid realmente não foi de todo ruim para a educação nas escolas públicas: “Por mais que a pandemia tenha sido um período terrível”, diz Todd Winch, superintendente escolar de Levittown, Long Island, “uma fresta de esperança foi isso que nos impulsionou a adicionar suporte técnico rapidamente.” O Newsday relata com entusiasmo: “As escolas da ilha estão apostando tudo na alta tecnologia, e os professores dizem que estão usando programas de computador como Google Classroom, I-Ready e Canvas para entregar testes e tarefas e para avaliar trabalhos.”
Fantástico, especialmente para o Google, que estava programado para vender 600 Chromebooks ao distrito escolar de Jericho e que, desde 2020, vendeu quase 14 mil milhões de dólares em computadores portáteis baratos a escolas e universidades de ensino fundamental e médio.
Se ao menos Winch e seus colegas tivessem participado do simpósio do Teachers College que apresentou o estudo de Froud em setembro passado. O principal palestrante do país foi o maior especialista do país em leitura e cérebro, John Gabrieli, um neurocientista do MIT que é cético em relação às promessas das grandes tecnologias e de seus vendedores: “Estou impressionado como a tecnologia educacional não teve efeito na escala, nos resultados da leitura , sobre dificuldades de leitura, sobre questões de equidade”, disse ele ao público de Nova York.
“Como é que nada disso elevou, em qualquer escala, a leitura? … É como se as pessoas dissessem: ‘Aqui está um produto. Se você conseguir colocá-lo em mil salas de aula, ganharemos muito dinheiro. E tudo bem; esse é o nosso sistema. Só temos de avaliar que tecnologia está a ajudar as pessoas e depois promover essa tecnologia em detrimento da comercialização de tecnologia que não fez diferença em nome dos estudantes. Foi tudo um produto e não um propósito.”
Só discordarei da noção de que é “OK” roubar às crianças todo o seu potencial intelectual a serviço das vendas – antes mesmo de começarem a entender o que significa pensar, e muito menos ler.
John R MacArthur é editor da Harper’s Magazine e autor de vários livros. Ele participou da arrecadação de fundos necessária para a pesquisa de Karen Froud

Este texto escrito originalmente em inglês foi publicado pelo jornal “The Guardian” [Aqui!].