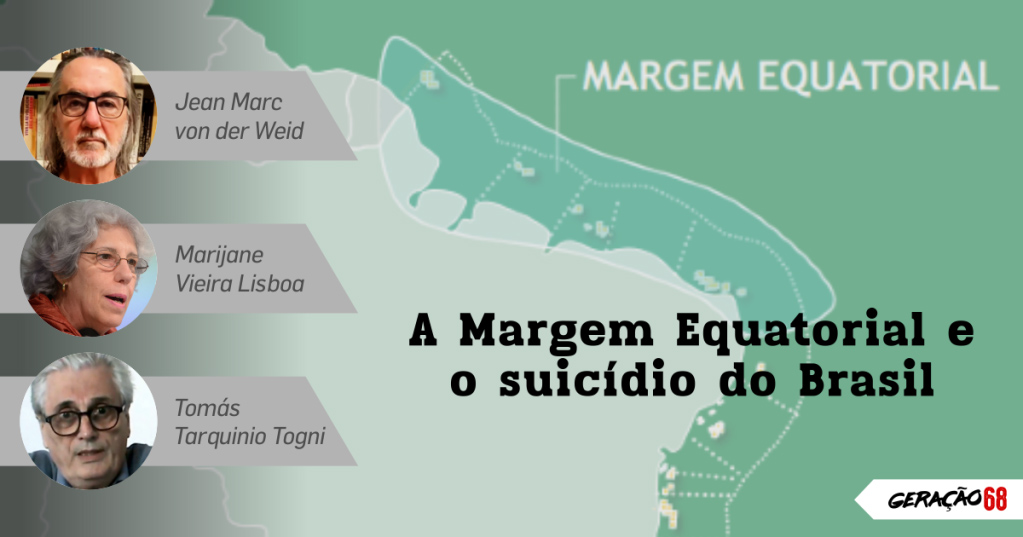Por Breno Bringel e Maristella Svampa para o “Nueva Sociedad”
Estamos vivendo um momento decisivo, marcado por um alto nível de fragilidade e incerteza diante da emergência climática e dos múltiplos riscos e destinos globais possíveis. A narrativa de estabilidade, governança nacional e governança global criada nas últimas décadas por atores hegemônicos desmoronou, primeiro com a crise de 2008 e depois com a pandemia de Covid-19. A imprevisibilidade e a instabilidade se converteram na norma diante de uma sequência de crises profundas (sociais, políticas, sanitárias, geopolíticas, econômicas e ecológicas) que não podem mais ser tratadas como antes, pois se justapõem e se reforçam mutuamente.
Estamos passando de múltiplas crises para uma policrise civilizacional, ou seja, crises inter-relacionadas que estão causalmente interligadas – isto é, produzem danos maiores do que a soma do que produziriam isoladamente – e questionam o modelo civilizacional baseado no crescimento ilimitado, progresso e desenvolvimento. Somam-se a esse cenário o fortalecimento da extrema direita e dos autoritarismos, a erosão da democracia, o controle digital e tecnológico da vida e o fortalecimento da cultura da guerra, conforme sugerido pelo Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul em sua recente Declaração de Bogotá.
Diante destas tendências, a transição socioecológica deixou de ser uma questão restrita a grupos de ativistas e cientistas para se tornar o eixo central das agendas políticas e econômicas contemporâneas. Entretanto, duas questões importantes surgem aqui. Primeiro, diante da urgência da descarbonização, há uma tendência de reduzir a transição socioecológica – cujo entendimento integral deve abranger os níveis energético, produtivo, alimentar e urbano – à transição energética. A segunda questão está associada à forma como a transição energética é realizada e quem pagará os custos.
A transição energética, impulsionada principalmente por grandes corporações, fundações e governos do Norte global e dos países emergentes em direção à energia supostamente “limpa”, está exercendo uma pressão cada vez maior sobre o Sul global. Para que a China, os Estados Unidos e a Europa avancem em direção à desfossilização, novas zonas de sacrifício estão sendo criadas nas periferias globais. Há vários exemplos dessa dinâmica: a extração de cobalto e lítio para a produção de baterias de alta tecnologia para carros elétricos afeta brutalmente o chamado “triângulo do lítio” na América Latina e no norte da África; a crescente demanda por madeira de balsa – abundante na Amazônia equatoriana – para a construção de turbinas eólicas exigidas pela China e por países europeus destrói comunidades, territórios e biodiversidade; e a nova licitação para megaprojetos de painéis solares e infraestrutura de hidrogênio aumenta ainda mais a apropriação de terras.
Esse processo está se tornando conhecido no ativismo e nos estudos críticos como “extrativismo verde” ou “colonialismo energético”: uma nova dinâmica de extração capitalista e apropriação de matérias-primas, bens naturais e mão de obra, especialmente (embora não exclusivamente) no Sul global, com o objetivo de uma transição para a “energia verde”.
Argumentamos que o colonialismo energético é a peça central de um novo consenso capitalista, que definimos como o “Consenso da Descarbonização”. Trata-se de um acordo global que defende a mudança de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma matriz sem emissões de carbono (ou com emissões reduzidas), baseada em energias “renováveis”. Seu leitmotiv é lutar contra o aquecimento global e a crise climática, estimulando uma transição energética promovida pela eletrificação do consumo e pela digitalização. No entanto, em vez de proteger o planeta, contribui para destruí-lo, aprofundando as desigualdades existentes, exacerbando a exploração dos recursos naturais e perpetuando o modelo de mercantilização da natureza. Este texto analisa como se produziu a mudança dos consensos capitalistas globais anteriores – o “Consenso de Washington” e o “Consenso das Commodities” – para o “Consenso da Descarbonização”. Ele também discute suas principais características, bem como as linhas de continuidade e ruptura em um mundo multipolar. Por fim, apresenta uma série de reflexões e propostas em relação à transição energética, tanto em termos geopolíticos quanto locais-territoriais.
Do “Consenso de Washington” ao “Consenso da Descarbonização” (via “Consenso das Commodities”)
O processo de liberalização comercial e econômica, desregulamentação, privatização, redução do Estado e expansão das forças de mercado nas economias nacionais, iniciado na década de 1980 e consolidado na década de 1990, recebeu o nome de “Consenso de Washington”. Conhecemos bem a receita trágica: um pacote de reformas que promoveu o fundamentalismo de mercado, estabelecendo o neoliberalismo como a única alternativa após a queda do Muro de Berlim. Foi um consenso entre diversos atores que promoveu a globalização neoliberal, com um peso especial das instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Apesar das diferenças de nuance, uma série de políticas de ajuste estrutural foi imposta aos países do Sul, promovendo o livre mercado.
Essas políticas foram elaboradas tendo a América Latina como ponto de referência e acabaram sendo referendadas por boa parte dos governos da região. No entanto, os graves efeitos ambientais e sociais e as múltiplas crises econômicas que elas geraram em vários países latino-americanos serviram de base para sua crítica política e intelectual. Resistência, redes e movimentos sociais começaram a se articular contra os acordos de livre comércio, a globalização neoliberal e seus principais símbolos. Os protestos contra a OMC, o Banco Mundial, o FMI, as campanhas contra a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e o Fórum Social Mundial foram processos fundamentais que articularam a denúncia do “Consenso de Washington” com o objetivo de gerar alternativas e convergências para “outros mundos possíveis”.
Na virada do século, esse ciclo global e regional de protestos foi acompanhado por intensas mobilizações em países como Argentina (2001), Venezuela (2002) e Bolívia (2003), que impulsionaram o surgimento do chamado “ciclo progressista” latino-americano e de um imaginário pós-neoliberal. Os progressismos latino-americanos exigiram um papel mais proeminente do Estado, com políticas sociais direcionadas e, em alguns casos, redistributivas, mas o fizeram de forma intimamente ligada ao fortalecimento do capital privado multinacional. O que foi vendido em vários países como uma política win-win, em que os pobres melhoravam de vida enquanto os ricos continuavam a enriquecer, foi possível graças à entrada da América Latina em uma nova ordem econômica e político-ideológica sustentada pelo auge dos preços internacionais de matérias-primas e bens de consumo cada vez mais exigidos pelos países centrais e potências emergentes como a China.
Essa nova ordem, caracterizada pela hegemonia do desenvolvimento neoextrativista, marcou a transição para outro tipo de consenso capitalista: o “Consenso das Commodities “, visto por atores muito diversos e heterogêneos – dos mais conservadores aos mais progressistas – como uma autêntica “oportunidade econômica”. As economias latino-americanas foram reprimarizadas e a dinâmica de desapropriação se acentuou de forma muito violenta, com a destruição da biodiversidade e a expulsão e o deslocamento de populações de seus territórios.
Nesse contexto, aumentaram a conflituosidade social e a resistência das comunidades e dos movimentos sociais à expansão do agronegócio, aos megaprojetos de mineração a céu aberto, à construção de grandes barragens hidrelétricas e à expansão da fronteira de petróleo e energia para hidrocarbonetos não convencionais. Mas as lutas de resistência contra o desenvolvimentismo neoextrativista, nas quais os movimentos ecoterritoriais desempenharam um papel de liderança, não se limitaram a um repertório reativo. Do “não” emergiram muitos “sins” e alternativas ao desenvolvimento e novos horizontes propositivos começaram a ser cultivados, como o Bem Viver, os bens comuns, a plurinacionalidade, os direitos à natureza e o paradigma do cuidado.
O fim do boom das commodities em meados de 2010 coincidiu com o fim desse ciclo progressista e com o fortalecimento da direita em vários países, em meio a uma profunda deterioração dos sistemas políticos e ao questionamento dos atores sociais e políticos estabelecidos. Uma forte polarização se estabeleceu entre o progressismo, que passou a ser atacado e ficou na defensiva, e as forças conservadoras ou reacionárias que começaram a definir a agenda.
A pandemia de Covid-19 surgiu nesse contexto como um evento global crítico, que acelerou e consolidou mudanças geopolíticas que já estavam em andamento, como a militarização global, o fortalecimento da China, a disputa inter-imperialista e o aumento da distância entre o centro e a periferia. Ao mesmo tempo, abriu-se uma nova janela política de discussão sobre como seria o mundo pós-pandemia. Apesar da insistência dos setores dominantes em manter os negócios como de costume, apostando mais em um “retorno à normalidade” do que em uma “nova normalidade”, uma lógica adaptativa do capitalismo em direção a um modelo supostamente mais “limpo” e “ecológico” também começou a ganhar terreno.
Grandes corporações transnacionais, instituições supranacionais e governos, com o apoio de várias organizações internacionais e especialistas, começaram a colocar a necessidade de descarbonizar a matriz energética no centro da agenda econômica e política. O Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) tornaram-se as principais referências oficiais para gerar estruturas internacionais compartilhadas. No terreno nacional, vários países criaram seus Pactos Verdes ou Green New Deals e até mesmo ministérios de Transição Ecológica. Atores supranacionais, como a Comissão Europeia, também pressionaram por um Pacto Verde Europeu, formulado com o objetivo de se tornar o primeiro continente “neutro em relação ao clima”. Assim, o discurso “NetZero até 2050” começou a aparecer em grande parte dos discursos convencionais, inclusive em alguns que eram abertamente negacionistas até anos atrás e agora começaram a oferecer “soluções climáticas”. Foi assim que surgiu o mais recente consenso capitalista: o que chamamos de “Consenso da Descarbonização”.
O “Consenso da Descarbonização”: características, contradições e implicações
O “Consenso da Descarbonização” baseia-se em um objetivo comum amplamente aceito. Em um mundo ferido pelo colapso, quem poderia se opor à descarbonização e à neutralidade climática? A questão principal não é o quê, mas como. A descarbonização é bem-vinda, mas não dessa forma. Entre os objetivos dessa descarbonização hegemônica não estão a desconcentração do sistema energético, o cuidado com a natureza, muito menos a justiça climática global, mas outras motivações, como atrair novos incentivos financeiros, reduzir a dependência de alguns países na busca pela segurança energética, expandir nichos de mercado ou melhorar a imagem das empresas. Em outras palavras, se os atores dominantes adotam essa agenda, é porque a veem como uma nova janela de oportunidade para o reposicionamento geopolítico e a acumulação capitalista, mais especificamente, uma “acumulação por desfossilização” que aprofunda a contradição capital/natureza.
Nesse novo consenso, a descarbonização não é vista como parte de um processo mais amplo de mudança do perfil metabólico da sociedade (nos padrões de produção, consumo, circulação de bens e geração de resíduos), mas como um fim em si mesmo. Embora se reconheça a gravidade da emergência climática, estão sendo construídas políticas que não apenas são insuficientes, mas também têm impactos muito graves, uma vez que a exploração dos recursos naturais está se intensificando e a ideologia do crescimento econômico indefinido está sendo mantida. Com mais uma transformação na retórica da “sustentabilidade”, abre-se uma nova fase de pilhagem ambiental do Sul global, afetando a vida de milhões de seres humanos e de seres sencientes não humanos, comprometendo ainda mais a biodiversidade e destruindo ecossistemas estratégicos. O Sul global, mais uma vez, se torna um depósito de recursos supostamente inesgotáveis, de onde são extraídos minerais estratégicos para a transição energética do Norte global, bem como um destino para os resíduos e a poluição gerados por essa nova “revolução industrial”.
O “Consenso da Descarbonização” mobiliza continuamente o discurso do potencial tecnológico e da inovação. Ao mesmo tempo, defende explicitamente os “negócios verdes”, o “financiamento climático”, as “soluções baseadas na natureza”, a “mineração climaticamente inteligente”, os “mercados de carbono” e várias formas de investimento especulativo. Quase sem nenhuma solução de continuidade, as políticas de “responsabilidade social” das empresas extrativistas foram convertidas nas últimas décadas em políticas de “responsabilidade socioambiental”, em uma tentativa de construir uma imagem de responsabilidade ecológica que contrasta fortemente com a realidade. Em suma, propõe-se um tipo de transição baseada em uma lógica fundamentalmente mercantil e com uma interface hiperdigitalizada, que gera novas mercadorias e formas sofisticadas de controle social e territorial.
O “Consenso da Descarbonização” é, em consequência, marcado pelo imperialismo ecológico e pelo colonialismo verde. Ele mobiliza não apenas práticas, mas também um imaginário ecológico neocolonial. Por exemplo, a ideia de “espaço vazio”, típica da geopolítica imperial, é frequentemente usada por governos e empresas. Se no passado essa ideia, que complementa a noção ratzelliana de “espaço vital” (Lebensraum), gerou ecocídio e etnocídio indígena – e mais tarde serviu para promover políticas de “desenvolvimento” e “colonização” de territórios -, hoje ela é usada para justificar a expansão territorial para investimentos em energia “verde”. Dessa forma, grandes extensões de terra em áreas rurais pouco povoadas são vistas como espaços vazios adequados para a construção de turbinas eólicas ou fábricas de hidrogênio. Esses imaginários geopolíticos das transições corporativas reproduzem relações coloniais, que não apenas podem ser vistas como uma imposição de fora para dentro, do Norte para o Sul. Em muitos casos, o que está em jogo é também um tipo de colonialismo verde interno, que cria as condições para o avanço do extrativismo verde com base em alianças e relações coloniais entre as elites nacionais e as elites globais.
O “Consenso de Descarbonização” também gera, em nome da “transição verde”, pressões nos próprios territórios do Norte global, tanto nos EUA quanto na Europa , com um grande impacto nas áreas rurais menos populosas. Mas nada disso se compara aos impactos e à escala desses processos na periferia globalizada. Como bem aponta um estudo recente de Alfons Pérez sobre os Pactos Verdes:
A distribuição geográfica da extração e das reservas atuais dessas matérias-primas essenciais desenha um mapa que é certamente diferente daquele da extração de combustíveis fósseis. Embora o Oriente Médio tenha sido o epicentro geoestratégico para o fornecimento de hidrocarbonetos, o foco agora está mudando para outras áreas do planeta. As principais regiões para a exploração desses elementos estão concentradas no Sul global e em regiões como a África Subsaariana, o Sudeste Asiático, a América do Sul, a Oceania e a China.
Apesar da busca incessante por esses minerais críticos, a forma e a temporalidade da implementação do “Consenso da Descarbonização” provocam contradições até mesmo entre seus próprios promotores. A exacerbação de políticas esquizofrênicas – ou double bind, para usar os termos de Gregory Bateson – parece ser um sinal da policrise civilizacional. Há aqueles que, embora reconheçam sua importância, procuram adiar a descarbonização e extrair até a última gota de petróleo, como é o caso de muitas empresas de combustíveis fósseis e seu lobby junto aos governos. Um exemplo foi o presidente Joe Biden que, em março de 2023, desafiando sua promessa eleitoral, aprovou o Projeto Willow, que permite a expansão da fronteira petrolífera no Ártico do Alasca, colocando em risco um ecossistema extremamente frágil que já está sofrendo com o derretimento do gelo devido ao aquecimento global. Outro exemplo vem da União Europeia que, ao mesmo tempo em que busca expandir o Pacto Verde Europeu, optou por voltar ao carvão até meados de 2022, usando como justificativa a crise energética acelerada pela guerra na Ucrânia. Assim, o governo alemão ordenou, em janeiro de 2023, a demolição de um vilarejo para dar lugar à expansão de uma mina de carvão de lignito, o tipo de carvão mais poluente entre os combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, como parte do plano europeu de recuperação pós-crise, a Alemanha pressionou os estados-membros da UE a destinar parte desses fundos para o desenvolvimento do hidrogênio verde. Mais recentemente, o governo brasileiro também parece haver entrado no Consenso da Descarbonização, anunciando um plano de ‘transformação ecológica’ ancorado, contudo, na lógica do crescimento econômico e sem renunciar a novas frentes de exploração de petróleo.
O tipo de lógica pós-fóssil promovida pelo “Consenso da Descarbonização” leva, portanto, a uma transição corporativa, tecnocrática, neocolonial e insustentável. Diversas projeções alertam que, abordada dessa forma, a transição energética é metabolicamente insustentável. O próprio Banco Mundial alertou, em 2020, que a extração de minerais
como grafite, lítio e cobalto, poderia aumentar em quase 500% até 2050 para atender à crescente demanda por tecnologias de energia limpa. Estima-se que mais de 3 bilhões de toneladas de minerais e metais serão necessários para a implantação de energia eólica, solar e geotérmica, bem como para o armazenamento de energia, a fim de alcançar uma redução de temperatura abaixo de 2 °C no futuro.
Relatórios mais recentes são ainda mais assustadores com relação ao aumento do uso de “minerais de transição”. Como argumenta o jornalista francês Guillaume Pitron, “centenas de milhares de turbinas eólicas, algumas mais altas que a Torre Eiffel, serão construídas nos próximos anos e exigirão enormes quantidades de cobalto, zinco, molibdênio, alumínio, zinco, cromo… entre outros metais”.
O “Consenso da Descarbonização” restringe o horizonte da luta contra as mudanças climáticas ao que a pesquisadora brasileira Camila Moreno define como a “métrica do carbono”: uma forma limitada de quantificar o carbono apenas em termos de moléculas de CO2, que oferece uma espécie de moeda para a troca internacional, gerando a ilusão de que algo está sendo feito contra a degradação ambiental. Dessa forma, o problema subjacente é encoberto e não apenas a poluição continua, mas também novos negócios são feitos com a poluição (por meio, por exemplo, do comércio de compensação de emissões). Os limites naturais e ecológicos do planeta continuam sendo ignorados, pois é evidente que não há lítio ou minerais críticos suficientes se os modelos de mobilidade e os padrões de consumo não forem alterados. O próprio fato de as baterias de lítio, assim como os projetos eólicos e solares, também exigirem minerais (como cobre, zinco e muitos outros) deve nos alertar para a necessidade de uma reforma radical do sistema de transporte e do modelo de consumo existentes.
Portanto, a transição não pode ser reduzida apenas a uma mudança de matriz energética que garanta a continuidade de um modelo insustentável. Ao propor uma transição energética corporativa de curto prazo, o “Consenso da Descarbonização” mantém o padrão hegemônico de desenvolvimento e acelera a fratura metabólica, com o objetivo de preservar o estilo de vida e o consumo atuais, especialmente nos países do Norte e nos setores mais ricos em escala global.
Continuidades e rupturas entre os três consensos capitalistas
Se durante a Guerra Fria a imaginação geopolítica hegemônica falava de um mundo bipolar, dividido em dois blocos ideologicamente polarizados, com a queda do Muro de Berlim começou a ser forjada uma imaginação geopolítica hegemônica baseada em consensos capitalistas globais. Se analisarmos o “Consenso da Descarbonização” sob a perspectiva da processualidade sócio-histórica, veremos que há continuidades e rupturas entre os três consensos hegemônicos em vigor nas últimas décadas. Entre os pontos de continuidade, três elementos principais podem ser destacados. O primeiro é o discurso da inevitabilidade, que afirma que não há alternativa a esses consensos. Após o “There is no Alternative” do Consenso de Washington, a restrição do mundo do possível foi sendo aperfeiçoada com diferentes repertórios de legitimação social, seja o acesso ao consumo pelos setores populares, seja a retórica de respirar um ar mais saudável. O “Consenso das Commodities” foi construído com base na ideia de que havia um acordo sobre a natureza irrevogável ou irresistível da dinâmica extrativista resultante da crescente demanda global por matérias-primas, cujo objetivo era fechar a possibilidade de alternativas. De maneira semelhante, o “Consenso da Descarbonização” hoje busca instalar a ideia de que, dada a urgência climática, não há outra transição possível e que a única existente e “realista” é a transição corporativa.
Em segundo lugar, todos esses consensos implicam em uma maior concentração de poder em atores não democráticos (grandes corporações, agentes financeiros e organizações internacionais), minando qualquer possibilidade de governança democrática, ainda mais em um contexto de “transição”. Isso se manifesta de duas formas principais. Por um lado, é visto na captura corporativa dos espaços de governança. Espaços como a Conferência das Partes (COP), que, como órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, deveriam ser fóruns multilaterais para avançar na luta contra as mudanças climáticas, são cada vez mais uma feira de negócios para o capitalismo verde que mantém as relações de poder energético entre o Norte e o Sul. Podemos dizer que as COPs servem ao “Consenso da Descarbonização”, assim como a OMC serviu ao “Consenso de Washington” e ao “Consenso das Commodities“.
Por outro lado, ela se manifesta na forte concentração de poder entre as grandes empresas, do início ao fim das cadeias globais. Se considerarmos o caso do lítio na Argentina e no Chile, por exemplo, no final da cadeia de valor global estão os gigantes automotivos (Toyota, BMW, Audi, Nissan, General Motors) e empresas elétricas como a Vestas e a Tesla. 50% da industrialização de baterias para fábricas automotivas está concentrada em empresas chinesas, e o controle da extração também é dominado por poucas empresas: a americana Albemarle, a chilena SQM, a americana Livent Corp, a australiana Orocobre e a chinesa Ganfeng. Por sua vez, o Chile e a Argentina exportam carbonato de lítio, uma commodity sem valor agregado e, apesar dos anúncios recorrentes sobre “industrialização”, os países do chamado “triângulo do lítio” estão longe de controlar a cadeia global do lítio, das salinas às baterias.
Em muitos casos, a extração de lítio está sendo realizada sem licença social, acordo ou consulta com as comunidades indígenas que habitam esses territórios há milênios e que denunciam o consumo excessivo de água e seus impactos no processo de extração. Nas Salinas Grandes, em Jujuy, Argentina, desde 2010, um grupo de comunidades indígenas (chamadas de “as 33 comunidades”) vem rejeitando a extração de lítio em seus territórios, exigindo consulta livre, prévia e informada e defendendo uma perspectiva holística e ancestral que integra território, autonomia, Bem Viver, plurinacionalidade, água e sustentabilidade da vida. O salar é considerado pelos povos indígenas como “um ser vivo, um doador de vida”, e eles têm como lema “A água e a vida valem mais do que o lítio”, como pode ser visto estampado no Aerocene Pacha, um balão de ar quente sem combustível que o artista argentino Tomás Saraceno ergueu em janeiro de 2020.
Em terceiro lugar, a constante busca pela expansão das fronteiras capitalistas envolve, em todos esses casos, a promoção de megaprojetos voltados para o controle, a extração e a exportação de bens naturais. E, para isso, há uma clara aposta em garantir “segurança jurídica” ao capital com bases regulatórias e legais que permitam a maior lucratividade empresarial. Não é inocente, por exemplo, que nos novos acordos comerciais bilaterais que a UE está negociando (com o Chile e o México, entre outros) ela tenha incorporado capítulos sobre energia e matérias-primas para garantir o acesso a minerais essenciais para a transição. A Comissão Europeia deixou bem claro na declaração do Pacto Verde Europeu que “o acesso aos recursos é uma questão de segurança estratégica para a implementação do Pacto Verde” e que é essencial “garantir o fornecimento de matérias-primas sustentáveis, em especial as necessárias para as tecnologias renováveis, digitais, espaciais e de defesa”. Nesse contexto, apresentou, em março de 2023, uma proposta para uma “Regulamentação de Matérias-Primas Críticas”, ostensivamente destinada a garantir um fornecimento seguro e sustentável dessas matérias-primas. No entanto, conforme explicado em um relatório do Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO, para sua sigla em holandês), a estratégia proposta pela UE não levará a um fornecimento sustentável de minerais críticos para a Europa, pois exacerbará os riscos aos direitos humanos e ao meio ambiente, prejudicará a dinâmica econômica nos países parceiros e continuará a reforçar o consumo insustentável nos países ricos.
Além dessas linhas de continuidade, há também novidades. Uma característica importante do “Consenso de Descarbonização” está ligada à complexidade das relações neocoloniais em um mundo multipolar, marcado pela competição inter-imperial, onde a geopolítica se transforma em geoeconomia e em múltiplos colonialismos. Não é apenas a UE, que carece de minerais essenciais, que está buscando acesso direto a eles. A China, apesar de possuir esses minerais, está muito bem-posicionada no Sul global, onde há quase duas décadas vem fazendo investimentos muito agressivos em setores extrativistas estratégicos, mantendo um tipo de relacionamento diferente daqueles estabelecidos pelos EUA e pela Europa. Uma das peculiaridades da nova dependência gerada entre a China e os países latino-americanos, dos quais, em quase todos os casos, é o principal parceiro comercial, é que, embora seus investimentos sejam de longo prazo em diferentes setores (agronegócio, mineração, petróleo, infraestrutura ligada às atividades extrativistas), em termos de transferências de tecnologia – particularmente em relação à transição verde – ela tende a usar tecnologia chinesa de ponta, que também inclui, às vezes, mão de obra chinesa. A disputa inter-imperial é concluída com os EUA. Embora essas questões pareçam estar ausentes das declarações do Departamento de Estado, em várias ocasiões a chefe do Comando Sul, Laura Richardson, deixou claro o interesse estratégico da América do Sul para seu país (em termos de água, petróleo, lítio, entre outros). Por fim, acrescentamos que a Rússia, como um ator tendencialmente hegemônico em um mundo multipolar, está longe de ter o alcance das potências mencionadas no campo da disputa sobre a transição energética.
Outro elemento de distinção importante entre esses três consensos é o papel do Estado. Sabemos que o “Consenso de Washington” foi marcado por uma lógica de Estado mínimo e o “Consenso das Commodities” defendeu um Estado moderadamente regulador, mas em estreita aliança com o capital transnacional. Por sua vez, o “Consenso da Descarbonização” parece inaugurar o surgimento de um tipo de neoestatismo de planejamento – em alguns casos, mais próximo de um estado eco-corporativo – que busca combinar a transição verde com a promoção de fundos privados e a financeirização da natureza. Dessa forma, as transições verdes conduzidas por instituições governamentais e pelo Estado tendem a se aproximar, facilitar e se fundir com as transições corporativas, em uma dinâmica de subserviência do setor público aos interesses privados. Entretanto, em alguns casos em que há ciclos intensos de mobilização social, o Estado pode tentar recuperar alguma autonomia relativa promovendo transições ecossociais que incentivem a descentralização e a desconcentração do poder corporativo.
Além disso, embora tanto o “Consenso das Commodities” quanto o “Consenso da Descarbonização” impliquem em uma lógica extrativista, os produtos e os minerais necessários foram ampliados. No primeiro caso, são principalmente produtos alimentícios, hidrocarbonetos e minerais, como cobre, ouro, prata, estanho, bauxita e zinco, enquanto no segundo, além dos minerais mencionados, o foco de interesse são os chamados minerais críticos para a transição energética, como lítio, cobalto, grafite, índio, entre outros, e terras raras. Em ambos os casos, a extração e a exportação de matérias-primas têm consequências catastróficas em termos de destruição ecológica e geração de dependência. No entanto, como argumenta a socióloga alemã Kristina Dietz, um aspecto fundamental que diferencia o extrativismo verde do neoextrativismo é o discurso usado para legitimar o primeiro, uma vez que os atores que o promovem afirmam que ele é sustentável e que é a única maneira possível de enfrentar a emergência climática.
Descarbonização sim, mas com justiça geopolítica
Para que a descarbonização saia dessa lógica perversa, ela deve ser desmercantilizada e descolonizada a partir de um questionamento estrutural. Qualquer hipótese de uma transição ecossocial justa e integral deve enfrentar esse desafio e não pode estar ancorada apenas no nível local – como geralmente acontece – mas também deve considerar o nível geopolítico como uma prioridade. Isso implica incorporar o imperativo do decrescimento por parte do Norte global, bem como a dívida ecológica com os povos do Sul, buscando construir pontes entre os atores e diagnósticos críticos em busca de uma justiça ecológica global.
O Norte global precisa urgentemente começar a decrescer em várias áreas: em termos de consumo, redução da esfera de mercantilização, desmaterialização da produção, transporte e distribuição das horas de trabalho. Embora em muitas das propostas de decrescimento os fatores mencionados acima pareçam estar ligados a uma lógica de redistribuição social, a “desmaterialização” – ou seja, a redução da intensidade do uso de matérias-primas e energia – é inexorável. Embora seja uma responsabilidade prioritária do Norte global, isso não significa que seja “apenas uma coisa do Norte”, como é frequentemente argumentado no debate público, e que o Sul tenha que reivindicar seu “direito ao desenvolvimento”, porque é o chamado desenvolvimento e a lógica do crescimento insustentável que está nos levando ao colapso hoje.
O decrescimento é uma demanda por justiça global, no contexto de um planeta já danificado. Além disso, como advertiram vários defensores do decrescimento (como Giorgos Kallis, Federico Dimaria e Jason Hickel, entre muitos outros), a redução progressiva do metabolismo social se traduziria em menos pressão sobre os recursos naturais e os territórios do Sul, o que abriria um “espaço conceitual” no Sul global que seria necessário para avançar em direção ao pós-extrativismo. Ainda assim, como afirma Hickel, “o decrescimento é uma demanda por descolonização. Os países do Sul devem ser livres para organizar seus recursos e seu trabalho em torno da satisfação das necessidades humanas e não em torno de servir ao crescimento do Norte”.
O complemento do decrescimento só pode ser o pagamento da dívida ecológica com os povos e países do Sul. Em termos contábeis, a dívida climática é apenas uma linha no balanço de uma dívida ecológica mais ampla. Assim, a dívida ecológica poderia ser entendida como a obrigação e a responsabilidade que os países industrializados do Norte têm para com os países do Sul pela pilhagem e exploração de seus recursos naturais (petróleo, minerais, florestas, biodiversidade, recursos marinhos), à custa da energia humana de seus povos e da destruição, devastação e poluição de seu patrimônio natural e de suas próprias fontes de subsistência.
A dívida ecológica também está intimamente ligada à dívida externa. A superexploração dos recursos naturais se intensifica quando as relações comerciais pioram para as economias extrativistas, que precisam fazer pagamentos da dívida externa e financiar as importações necessárias. A pressão que os centros capitalistas exercem sobre a periferia para extrair recursos naturais é exacerbada no contexto da dívida externa. O imperativo de crescimento dos países ricos tem como contrapartida a “obrigação de exportar” do Sul, que nos países capitalistas periféricos parece estar associado à necessidade de pagar a dívida externa e seus juros, o que renova um círculo interminável de desigualdade. Isso está acontecendo hoje na Argentina, um país com uma dívida externa (contraída pelo governo neoliberal de Mauricio Macri entre 2015 e 2019) que o torna incapaz de pensar em qualquer alternativa de mudança que não seja expandir as fronteiras do neoextrativismo, a fim de obter dólares para aliviar os pagamentos de juros da dívida externa com o FMI.
Durante décadas, houve inúmeras e recorrentes iniciativas exigindo reparações abrangentes por responsabilidades históricas e que também articulam explicitamente a dívida ecológica com a dívida externa. Esse foi o caso da campanha Quem deve a quem? que, no auge do movimento altermundialista, na virada do século, exigiu o cancelamento da dívida externa e o pagamento da dívida ecológica. Além de denunciar a natureza ilegítima da dívida externa, o objetivo era conscientizar a população do Norte global sobre sua responsabilidade pela dívida ecológica. Mais recentemente, em 27 de fevereiro de 2023, o movimento Debt for Climate lançou um convite para se reunir com representantes dos países mais afetados pela interseção da crise climática e da dívida, a fim de discutir o cancelamento da dívida do Sul global e, assim, permitir uma transição justa. Esse dia marcou o 70º aniversário do Acordo de Londres, por meio do qual a Alemanha recebeu um alívio de 50% da dívida acumulada antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns dos países que permitiram que a Alemanha vivesse seu chamado “milagre econômico”, graças a esse cancelamento, estão hoje altamente endividados. No entanto, a Alemanha impede qualquer medida progressiva para aliviar esses países de seu pesado fardo de dívida, enquanto, ao mesmo tempo, eles estão sofrendo as consequências devastadoras da crise climática.
De acordo com Alberto Acosta, se isso foi possível para a Alemanha em um contexto pós-guerra, por que não seria possível para os países do Sul em um cenário pós-pandemia e de emergência climática? O Acordo de Londres também nos oferece uma lista de questões a serem consideradas no enfrentamento da dívida externa: capacidade de pagamento, cancelamento substancial da dívida, redução significativa das taxas de juros, transparência nas negociações para determinar os benefícios das partes, cláusulas de contingência, esquemas de gerenciamento de disputas e a possibilidade de arbitragem justa e transparente, entre muitas outras. Para avançar na busca de soluções duradouras, é necessário, embora não seja suficiente, exigir o cancelamento da dívida, auditorias cidadãs e atenção às repetidas denúncias de violência e corrupção ligadas à dívida externa. Em suma, uma reconfiguração do sistema financeiro internacional que deixe claro que nenhum país pode se salvar sozinho, algo que não surgirá espontaneamente, mas que requer uma reativação das articulações internacionalistas que conectem o Norte e o Sul global neste cenário de policrise civilizacional.
Nesse marco, o decrescimento e o pós-extrativismo são duas perspectivas complementares e multidimensionais que permitem a construção de pontes internacionalistas e Norte-Sul em torno de uma transição ecossocial integral. Ambas formulam uma crítica aos limites ecológicos do planeta e enfatizam a insustentabilidade dos modelos de consumo imperial e do aprofundamento das desigualdades sociais. São também conceitos-horizonte que constituem um ponto de partida para a construção de ferramentas de mudança e alternativas civilizacionais, com base em outro regime socioecológico, diferente do regime economicista e pragmático de certos ambientalismos do momento. Podem avançar, com justiça climática, em direção a um horizonte de transformação ecossocial.
Construir transições ecossociais justas, populares e territorializadas
Em contraste com o que propõe o “Consenso da Descarbonização”, a energia deve ser vista como um direito e a democracia/soberania energética como um horizonte para sustentar o tecido da vida. A justiça ecossocial deve ter como objetivo eliminar a pobreza energética e desmantelar as relações de poder. No horizonte de uma transição energética justa, os combustíveis fósseis devem ser deixados no solo e os processos de exploração de hidrocarbonetos devem ser “desescalonados”, conforme sugerem as companheiras da organização Censat Agua Viva na Colômbia, o que implica uma ruptura de sentido para ressignificar a natureza.
Há cada vez mais vozes que, felizmente, buscam desmascarar o “Consenso da Descarbonização”, argumentando que a transição energética não pode ser feita às custas da água, dos ecossistemas e dos povos. Elas mostram, ao mesmo tempo, que as transições ecossociais justas não são e não podem ser uma projeção do futuro, mas estão acontecendo no presente, na experiência cotidiana de múltiplos territórios urbanos e rurais, no Norte e no Sul. Como resultado, o desafio não é tanto construir novas utopias e narrativas ecoutópicas para um mundo em que gostaríamos de viver, mas expandir, reconhecer e aprimorar essas práticas, conduzidas por diversas comunidades, organizações e movimentos sociais, que já existem e prefiguram alternativas sociais.
As transições ecossociais populares e territoriais estão, portanto, ancoradas em experiências concretas que, embora locais, podem ser ampliadas, conectadas e inspirar outras realidades. Elas têm vários eixos estratégicos que se alimentam mutuamente: energia (comunidade), alimentos (agroecologia e soberania alimentar), produção e consumo (estratégias de deslocalização e práticas pós-extrativistas de economia social e solidária, agricultura urbana), trabalho e cuidado (redes de cuidado e sociabilidades anticapitalistas), infraestruturas (moradia, mobilidade etc.), cultura e subjetividade (mudança cultural e de mentalidade), disputa política e normativa (geração de novos imaginários políticos relacionais vinculados a direitos territoriais e da natureza, eco-dependência, eco-feminismos, múltiplas dimensões da justiça e ética interespécies).
Essas propostas entendem que as transições ecossociais não podem se restringir apenas às questões climáticas e energéticas, como é comum no tipo dominante de transição, mas devem ser holísticas e integrais. Elas exigem uma transformação estrutural do sistema energético, mas também do modelo urbano e de produção, bem como dos vínculos com a natureza: desconcentrar, desprivatizar, desmercantilizar, descentralizar, despatriarcalizar, desierarquizar, reparar e curar. Além disso, ela busca um conceito de justiça integral que transcende a visão limitada das transições corporativas: o social não pode ser separado do ambiental; e a justiça social, ambiental, étnica, racial e de gênero também são indissociáveis.
Longe de romantizar as experiências de transições ecossociais justas, é essencial entender suas contradições, dificuldades e obstáculos internos e externos. Nesse registro, a multiescalaridade e as mediações políticas são elementos fundamentais. Por exemplo, uma alternativa ecossocial restrita a pequenas comunidades e lugares específicos que não se relacionam com outras experiências não é o mesmo que experiências localizadas, mas não localistas, que buscam construir articulações e sentidos para além de seu próprio território. Em um contexto de desglobalização gradual, a tentação de uma forte desconexão é grande. Mas para que as transições justas avancem, precisamos da criação de blocos regionais fortes, bem como do avanço na direção de um estado ecossocial.
A crise ecológica e climática está introduzindo novos riscos, a maioria com danos irreversíveis, que afetam a população de forma desigual. Como o economista Rubén Lo Vuolo aponta, precisamos ir além da lógica de um Estado que repara os danos para construir um Estado capaz de preveni-los. A distribuição deve ser pensada independentemente do crescimento. Um Estado ecossocial deve buscar um mecanismo de proteção social que seja o mais universal possível. Em vez de garantir uma aposentadoria (para aqueles que contribuem há anos), devemos buscar uma renda universal ou uma renda básica, a fim de passar de um Estado compensatório para um Estado preventivo, mais preocupado com as necessidades das pessoas do que com os interesses das corporações.
Sem uma mobilização social constante, coordenada e maciça, é improvável que isso aconteça. Não se trata apenas de reunir os movimentos climáticos ou repensar o ambientalismo, mas também de integrar uma multiplicidade de lutas que nem sempre estiveram conectadas entre si, mas que nos últimos anos tendem a aderir progressivamente ao paradigma das transições justas, contribuindo para que avancem em suas diferentes dimensões: movimentos feministas, antirracistas, camponeses, indígenas, animalistas, sindicais, de economia popular e solidária, entre outros. Longe das soluções individualistas que emergem do “Consenso da Descarbonização”, isso nos permite entender que a saída é coletiva; que não é apenas técnica, mas profundamente política. Essa é a chave para gerar processos de confluência e libertação cognitiva que permitam nos percebermos como sujeitos valiosos, embora não únicos, na construção urgente e necessária de uma história interespécies que merece ser vivida.
Notas
- Michael Lawrence, Scott Janzwood y Thomas Homer-Dixon: «What is a Global Polycrisis? And How Is It Different from a Systemic Risk?», informe para discussão, Cascade Institute, 9/2022.
- Ver https://pactoecosocialdelsur.com/declaracion-de-bogota/
- M. Svampa y Pablo Bertinat (eds.): La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.
- M. Svampa: «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013, disponível em nuso.org.
- B. Bringel y Geoffrey Pleyers (eds.): Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia, Clacso, Buenos Aires, 2020.
- Este conceito foi formulado pelo Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires. Ver, entre otros, «El litio y la acumulación por desfosilización en Argentina» en M. Svampa y P. Bertinat (eds.): La transición energética en Argentina.
- Thea Riofrancos: «Por qué relocalizar la extracción de minerales críticos en el Norte global no es justicia climática» en Viento Sur, 8/3/2022.
- A. Pérez: Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora, Observatori del Deute en la Globalització / Libros en Acción / Icaria, Barcelona, 2021, p. 62.
- G. Bateson: Steps to an Ecology of Mind, Chandler, San Francisco, 1972.
- Etienne Beeker: «¿Hacia dónde va la transición energética alemana?» em Agenda Pública, 15/2/2023.
- Banco Mundial: Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, BM, Washington, DC, 2020.
- G. Pitron: «El impacto de los metales raros. Profundizando en la transición energética» em Green European Journal, 5/2/2021.
- C. Moreno, Daniel Speich Chassé y Lili Fuhr: A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico, Fundação Heinrich Böll, Río de Janeiro, 2016.
- Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente: «Cambios en la normativa de explotación y creación de una empresa 100% estatal», Serie Políticas y Líneas de Acción, Clacso, 2021.
- Para mais informações, ver https://pacha.aerocene.org
- A. Pérez, op. cit., p. 58.
- Disponivel em: single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en.
- «SOMO Position Paper on Draft Critical Raw Materials Regulation», 17/5/2023, disponível em somo.nl/somo-position-paper-on-critical-raw-materials-regulation/.
- M. Svampa y A. Slipak: «Amérique Latine, entre vieilles et nouvelles depéndances: le rôle de la Chine dans la dispute (inter)hégémonique» em Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique vol. 2018/4, No 171, 2018.
- M. Argento, A. Slipak y F. Puente, p. cit.
- Camilo Solís: «Laura Richardson: la jefa del Comando Sur de EEUU que pretende el litio sudamericano y que cierren Russia Today y Sputnik» em Interferencia, 6/6/2023.
- K. Dietz: «Transición energética y extractivismo verde», Serie Análisis y Debate No 39, Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Región Andina, Quito, 9/2022. Ver o artigo nesse número, p. 108.
- F. Demaria: «Decrecimiento: una propuesta para fomentar una transformación socioecológica profundamente radical» em Oikonomics No 16, 11/2021. Vale destacar que enquanto na Europa o debate sobre o decrecimiento desbordou o campo militante, abandonando seu caráter «abstrato» para permear os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mundanças Climáticas (que questionam a lógica do crescimento econômico) e inserir-se cada vez mais na discussão política institucional de la União Europeia, nos EUA, pelo contrário, esse continua sendo um tema tabu, inclusive dentro dos círculos ecossocialistas, pouco propensos a retomá-lo nos debates sobre a transição ecossocial.
- J. Hickel: «The Anti-Colonial Politics of Degrowth» em Resilience, 4/5/2021.
- «Alerta verde No 78: ¡No más saqueo, nos deben la deuda ecológica!» em Ecología Política No 18, 1999.
- M. Svampa y E. Viale: «De la ceguera ecológica a la indignación colectiva», ElDiarioAR, 14/5/2023.
- Francisco Cantamutto y Martín Schoor: «América Latina y el mandato exportador» en Nueva Sociedad edición digital, 6/2021, disponível em nuso.org.
- Joan Martínez Alier y Arcadi Oliveres: ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y deuda externa, Icaria, Barcelona, 2010.
- A. Acosta: «Un aniversario histórico, 70 años del Acuerdo de Londres. ¿Por qué es un imposible para los países del sur?» em Ecuador Today, 23/2/2023.
- Ver o Manifiesto de los Pueblos del Sur por una Transición Justa y Popular, 2023, disponível em: pactoecosocialdelsur.com/manifiesto-de-los-pueblos-del-sur-por-una-transicion-energetica-justa-y-popular-2/.
- Ver, a respeito, os trabajos de Pablo Bertinat e a Declaración de Bogotá del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
- R. Lo Vuolo: «Crisis climática y políticas sociales. Del Estado de Bienestar al Estado Eco-Social», Serie Documentos de Trabajo CIEPP No 111, 12/2022.
Fonte: Editora Elefante