
Por Douglas Barreto da Mata
Desde os primórdios, quando os ajuntamentos de pessoas começaram a disputar territórios e recursos entre si, tão importante quanto o esforço militar de cada parte, era o controle da narrativa. Se a História é a tradução da versão dos vencedores, definir quem, e como se conta essa história é crucial. Desde os papiros até os meios digitais muita confusão e distração foram produzidas, confundindo não só o senso comum, mas também acadêmicos e pessoas dotadas de acesso às informações mais, digamos, qualificadas.
A esquerda brasileira, por exemplo, está tão perdida quanto cego em tiroteio. A mídia brasileira é um caso à parte, com raríssimas e honrosas exceções. Ela não está perdida, ela está na coleira. Jornalistas brasileiros, na maioria, não pensam por si, só reproduzem o conteúdo que vem da matriz, os EUA. É um trabalho constante de sustentação de um pensamento hegemônico global, sem qualquer compromisso com verdade factual, ou intenção de pensar “fora da caixa”.
Assim, em um estranho universo, mídia e esquerda se juntam, cada qual por uma razão distinta, a primeira por burrice, a segunda por má fé, e apresentam visões muito ruins sobre o tabuleiro geopolítico, e claro, sobre os conflitos que envolvem Israel.
Sim, eu sei. Ideologicamente há argumentos para odiar Israel, desde a ideia esdrúxula de sua existência, a partir de 1948, sua posição agressiva a partir de então, e culminando com os episódios recentes, o holocausto palestino e a guerra com o Irã. Eu já disse isso aqui antes.
Uma coisa é uma posição política e afetiva a favor dos mais fracos. Outra é desconhecer a História. Apesar de serem os únicos que confrontam o império estadunidense, e terem sido alvo de agressões por muito tempo, passando pelas Cruzadas e outros embates, as sociedades islâmicas são teocráticas, ultra conservadoras e com hierarquia de classes rígidas. Não são um paraíso socialista.
Lá nos idos do início do capitalismo, e nos períodos anteriores de acumulação primitiva, o Islã reunia condições tecnológicas e científicas muito mais avançadas, e dominavam rotas de comércio cruciais (uma cena ilustrativa é o Saladin oferecendo gelo no deserto para os prisioneiros cruzados, no filme Cruzadas). Foram massacrados em um momento que a História e seus desígnios decidiu quem ia dar o salto Paes uma sociedade de produção capitalista, ou não. Se não fosse por esse motivo, o mundo ocidental não existiria como conhecemos, e talvez Hollywood fosse Meca. Por isso foram massacrados, embora a justificativa tenha sido a fé.
Então é, no mínimo, contraditório, a esquerda desconhecer que combater o autoritarismo israelense não faz sentido, se a escolha for autoritarismo islâmico, que são regimes que praticam o modo de produção capitalista, mais atrasados pelas razões já expostas aí em cima.
Por outro lado, a mídia nacional (sucursal da Casa Branca), bate tambor por Israel, e vende o conto do mocinho contra o bandido, reduzindo a questão a uma luta entre o mundo (ocidental) “esclarecido” e os “bárbaros” do Islã, requentando ódios medievais misturados com ressaca da guerra fria. Não, não se luta por democracia ou por valores universais no oriente médio, a disputa ali é por grana. Aliás, no mundo todo. No entanto, não é só isso.
O que está em colisão são três grandes modelos autoritários, que se colocam em blocos: O complexo sino-indo-russo e associados, aqui juntos o Irã e facções do mundo árabe, e do outro, EUA, Europa, e associados, incluindo Israel e partes do mundo árabe. A América Latina parece hesitar, mas não vai resistir muito, e deve aderir, a um ou outro bloco, no todo ou dividida. Essa parte Sul do mapa talvez seja o local de alternativas genuínas, todas abortadas, é claro, pelo esforço EUA-Europa.
O sucesso chinês e, de certa forma, os relativos sucessos russo e indiano estabeleceram um padrão a ser perseguido pelas potências ocidentais decadentes, que se ressentem do fardo “democrático”, ou seja, da impossibilidade de fazer o capitalismo sem amarras ambientais, eleitorais e de regulamentação, melhor dizendo, impondo rígidas regras para retirar “obstáculos sociais” do caminho, com planejamento verticalizado ao máximo. Se antes chineses eram conhecidos pelas cópias, hoje é o “mundo livre” que deseja o padrão chinês de gestão política do capitalismo.
Diferente da Segunda Guerra, nos dias atuais não há oposição de um suposto bloco “democrático” contra um eixo totalitário. A contenda é para saber quem será o mais autocrático. Esqueça a “vocação humanista europeia”. Essa farsa acabou na tentativa de insuflar a Ucrânia contra a Rússia (outra historinha da mídia nacional).
Mesmo desse jeito, pensando de forma pragmática, o fato é que torcer pelo Irã exige o desprendimento, em outras palavras, vontade de andar a pé e deixar uma pauta de produtos (derivados de petróleo, ou quase tudo) fora de nossa vida ocidental. É Israel que, como preposto militar dos EUA e da Europa, mantém o preço do petróleo em um patamar que nos permite viver. Dura verdade, mas é a verdade.
O Irã é um regime que existe como oposição aos EUA, mas não significa que isso nos favoreça. Talvez aqui e ali, mas não se pode confundir o regime iraniano com aquele que foi derrubado pelos EUA, em 1953, quando o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh prometeu estatizar o petróleo. Naquela época o Irã era um país secular (religião separada do Estado), que foi transformado em uma brutal ditadura pela CIA.
Na década de 1970, os aiatolás mobilizaram a resistência e o ódio, fermentando esse movimento com fanatismo religioso, e o resto todo mundo sabe. O Irã é uma analogia da nossa extrema-direita por aqui, que mistura religião, repressão de costumes, e hierarquias políticas.
Engraçado é também assistir os ultra direitistas atacando o Irã e a Palestina, quando nesses locais estão instalados regimes que esses contingentes políticos nacionais desejam instalar no Brasil Religiosos, autocráticos e ultra capitalistas.
A geopolítica, às vezes, exige deslocamentos e alinhamentos temporários, demanda sopesarmos qual é mal menor, e o que é ou não possível para alcançar um objetivo estratégico. Acima de tudo, requer bom senso. Eu leio muita gente boa por aí babando russos e chineses, imaginando um mundo cor de rosa pós EUA.
Não creio que a solução para a esquerda e para o Brasil seja mudar de dono. Ao mesmo tempo, a aversão que a extrema-direita brasileira tem pelo Islã e China, ou o amor incondicional ao EUA não se justificam.






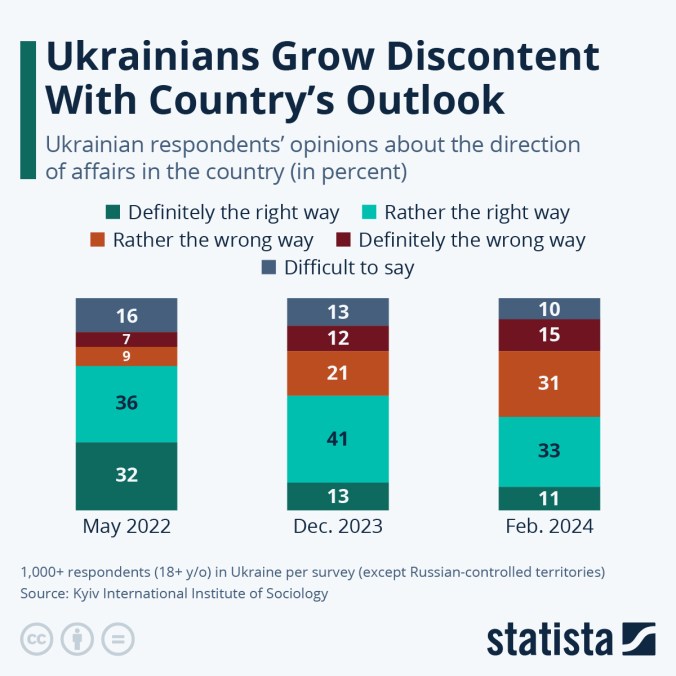

 Importante para a nutrição global, mas atualmente em perigo: colheita de trigo na Ucrânia (08/09/2022)
Importante para a nutrição global, mas atualmente em perigo: colheita de trigo na Ucrânia (08/09/2022)


