Cobrança pelo uso da água, criada para promover uso racional do recurso, ainda engatinha no país
Por Rafael Oliveira para a Agência Pública
Cinco centavos. Esse é o valor que um conjunto de 44 empresas que mais captam água no Brasil pagaram em 2022, em média, para cada 10 mil litros que são autorizadas a retirar de fontes de água federais. Muitas delas não pagaram nem um centavo sequer, mesmo sendo a água um recurso fundamental para o funcionamento de seus negócios bilionários.
A cobrança pelo uso da água tem como principal finalidade promover o uso racional dos recursos hídricos e é um dos pilares da gestão da água. Passados 27 anos da lei que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, entretanto, o instrumento ainda engatinha no país, parte pela inação do Estado, parte por pressões econômicas contrárias ao pagamento.
Em outubro de 2023, a Agência Pública revelou quais são as 50 empresas “donas” da água no Brasil (entre elas havia seis com outorgas preventivas, instrumento que reserva água para grandes projetos em planejamento). O levantamento trouxe à tona uma série de problemas nas concessões de outorgas, que se baseiam em critérios desatualizados e não levam em conta a variação da quantidade de água disponível nos rios ao longo do ano. Agora, avaliamos se essas empresas fazem algum tipo de pagamento por esse uso.
Entre as campeãs de captação de água estão gigantes do agronegócio, do setor sucroalcooleiro e de papel e celulose. Esse conjunto de grupos empresariais tem outorgas para captar 5,2 trilhões de litros por ano. Isso apenas em corpos hídricos de domínio da União, que são aqueles que banham mais de um estado, são limítrofes a territórios estrangeiros ou estão em área federal. É um volume equivalente ao consumo anual de 93,8 milhões de pessoas, quase metade da população do país, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Considerando as 44 empresas que já captam a água na prática (juntas elas têm direito a 4 trilhões de litros), metade não pagou nenhum centavo pelo uso de água em 2022. É o que mostra levantamento feito pela reportagem a partir da análise de dados públicos e informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI).
Essas empresas podem captar juntas 1,7 trilhão de litros por ano. Apenas as outras 22, que podem extrair 2,3 trilhões de litros/ano, pagaram algo pelo uso da água de fontes federais. O montante desembolsado por essas empresas no ano retrasado foi de R$ 20,9 milhões.
O total representa apenas 17% dos R$ 123,2 milhões arrecadados entre todas as empresas que pagaram pelo uso da água nos comitês de bacias interestaduais que já instituíram a cobrança. O valor se refere ao ano-exercício de 2022, o mais recente com dados completos, e considera o uso da água pelas empresas no ano anterior.
A gestão da água, avaliam os especialistas ouvidos pela Pública, se mostra ainda mais relevante com o avanço das mudanças climáticas, que podem tornar as grandes captações do agronegócio e da indústria insustentáveis. O aquecimento do planeta tem como uma das consequências a alteração do regime de chuvas, ora provocando escassez, como a que atingiu a Amazônia ano passado, ora provocando tempestades sem precedentes, como as enfrentadas pelo Rio Grande do Sul em 2023.
Em terras brasileiras, a emergência climática se associa com o desmatamento, que agrava ainda mais as mudanças no padrão pluviométrico e na capacidade que o solo tem de reter a água. Demonstração disso é a redução de 15,7% da superfície coberta por água no Brasil entre 1985 e 2020, segundo dados do MapBiomas.
A despeito de ainda ser o país com maior quantidade de água doce no mundo, cerca de 12% do total, a tendência no Brasil é de aumento na disputa por recursos hídricos. Nos últimos dez anos, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) contabilizou 2.447 conflitos por água, com 20 assassinatos.
“Os conflitos vão se avolumar ainda mais se os setores não colocarem a água como um componente estratégico para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país”, aponta o secretário-executivo do Observatório da Governança das Águas (OGA Brasil), Angelo Lima.
Por que isso importa?
- Empresas têm direito a captar trilhões de litros, mas pagam pouco ou quase nada pela água
- Mudanças climáticas vão reduzir disponibilidade hídrica, aumentando conflitos pelo recurso, o que impõe maior controle sobre o uso
Maior parte do Brasil ainda não cobra pela água
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos não se trata de um imposto e tampouco funciona na mesma lógica da conta de água doméstica, que serve para cobrir os gastos do serviço prestado pela empresa de abastecimento. Ela serve como uma remuneração pelo uso de um bem público e funciona como uma taxa de condomínio, em que os diferentes moradores pagam um valor mensal, utilizado na manutenção e em melhorias na estrutura do local.
Ainda que a finalidade seja diferente, a comparação entre o montante pago pelas grandes empresas e a conta que chega na casa das pessoas revela um abismo: as empresas pagam cerca de 1.420 vezes menos do que o consumidor. Em São Paulo, por exemplo, uma família que consuma os mesmos 10 mil litros mensalmente vai pagar pouco mais de R$ 71 em sua conta mensal.
Segundo a Lei 9.433/1997, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, o objetivo primário da cobrança pelo uso dos recursos hídricos é promover o uso racional da água, um recurso finito, de maneira que os usuários reconheçam seu valor econômico.
Além disso, o montante arrecadado é utilizado na própria bacia, financiando os organismos locais do sistema de gestão de recursos hídricos e projetos que garantam a perenidade da água, como a recuperação e preservação de mananciais.
Para que ela ocorra na prática, é preciso que seja estabelecido um comitê de bacia hidrográfica (CBH) naquela região. Os comitês são fóruns de composição mista, incluindo representantes do poder público, da sociedade civil e dos usuários de recursos hídricos.
São os próprios CBHs que definem qual o valor e quem será cobrado pela utilização da água, e os recursos são geridos por uma agência de bacia, órgão executivo de apoio aos comitês. A cobrança é feita em cima do valor efetivamente captado no ano anterior e não do total autorizado. Há CBHs estaduais e interestaduais, sendo os últimos os responsáveis pela cobrança dos recursos hídricos federais.
Aqui se encontra a primeira lacuna que explica por que muitas das empresas que aparecem no levantamento da Pública não pagaram nenhum centavo sequer em 2022: não há comitê de bacia em boa parte do país. Considerando as águas federais, o Brasil tem atualmente dez comitês de bacia interestaduais, concentrados especialmente no Nordeste e no Sudeste.
De acordo com Vicente Andreu, ex-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA – órgão federal que concede as outorgas de água), a instalação de um comitê de bacia depende de “uma organização social prévia para ser viabilizado”, com “um esforço político, principalmente do poder público, de convencimento dos usuários de água”. “Alguns grupos fazem movimento de não ter comitê, para não ter cobrança, não ter enquadramento dos corpos hídricos. Tem um movimento consciente e deliberado de impedir que o sistema se consolide e se fortaleça”, aponta.
Todos os comitês interestaduais são majoritariamente compostos pelo setor de usuários, que detém 40% das vagas em média – com o agronegócio ocupando de 5% a 20% e a indústria e a mineração juntas variando entre 6% e 15% do total de vagas. O poder público tem entre 30% e 40% das vagas, somando as esferas federal, estadual e municipal. A sociedade civil ocupa entre 20% e 30% das vagas nesses comitês.
Nesse contexto, acaba sempre ocorrendo pressão para se cobrar o menor valor possível pela água em qualquer das bacias brasileiras. “Alguns usuários altamente demandantes de água, como o setor agrícola, na maioria das bacias [estaduais] ainda não pagam ou pagam muito pouco. É um valor decidido no comitê pelos próprios usuários, mas as pessoas enxergam e vendem isso como se fosse mais um imposto”, diz Andreu.
Angelo Lima, da OGA Brasil, destaca também que há uma certa “inação” de alguns estados na instalação dos comitês por conta de “pressões do setor econômico”, especialmente nas regiões onde o agronegócio é forte. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Assembleia Legislativa chegou a aprovar uma lei que isentava o setor agropecuário da cobrança pelo uso da água, o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O estado do Centro-Oeste não é abrangido por nenhum comitê de bacia interestadual – ou seja, as empresas instaladas por lá que captam águas de fontes federais não pagam nenhum centavo sequer pelo uso do recurso. O Mato Grosso do Sul concentra as outorgas das gigantes do setor de papel e celulose, com um volume anual de 334,2 bilhões de litros, considerando o levantamento feito pela reportagem.
É o mesmo caso do Pará, sede de grandes projetos de energia termelétrica e de mineração, onde há outorgas para captação de 211,3 bilhões de litros, mas nenhum mililitro de água é cobrado por falta de um comitê de bacia. A região da bacia amazônica como um todo não possui comitê de bacia interestadual e tem uma quantidade ínfima de comitês estaduais, a despeito de concentrar 81% da água superficial do país.
Mas mesmo nos locais onde os comitês de bacia já foram instalados, nem todos estabeleceram a cobrança pelo uso da água. Nos interestaduais, três deles – Paranapanema, Piranhas-Açu e Parnaíba – ainda não instituíram a cobrança e um – Grande – vai começar a cobrar a partir deste ano.

O cenário é ainda pior nas bacias estaduais: apenas cinco estados (CE, SP, RJ, MG e PB) já cobram pelo uso da água em todo o seu território, e mais três (GO, RN e SE) vão começar a cobrar em 2024. O Paraná faz a cobrança em duas de suas bacias, e o Espírito Santo vai iniciar a cobrança em uma bacia a partir deste ano. Em vários dos comitês estaduais, o setor do agronegócio é isento ou paga valores diferenciados. Em 17 estados, não há cobrança alguma, segundo informações da própria ANA.
Para Andreu, apesar de os valores cobrados ainda serem baixos, os comitês que conseguiram vencer os obstáculos e instalaram a cobrança devem ser vistos de maneira positiva.
“Nenhum prefeito, nenhum governador gosta de falar que vai implementar a cobrança do uso da água. [O político quando decide implementar a cobrança] não justifica pelas qualidades, pela manutenção de um sistema descentralizado e democrático de gestão de recursos hídricos. Eles normalmente justificam dizendo que a lei obriga. Ninguém quer pagar, tem efeitos políticos, pode refletir na opinião pública, é utilizado pela oposição, então é mais cômodo não fazer”, argumenta.
Valor pago pela água é apenas 0,07% dos lucros das grandes empresas
Em 2022, o preço médio de tabela cobrado de todos os usuários a cada 10 mil litros captados nas bacias interestaduais foi de 23 centavos. O valor, no entanto, cai para cinco centavos para o grupo de empresas “donas da água” porque boa parte do recurso a que elas têm acesso não passa por nenhum tipo de cobrança. Isso ocorre porque nem todo o território nacional é coberto por comitês e nem todos já estabelecidos implementaram esse instrumento de gestão.
É o caso, por exemplo, da Suzano, uma das maiores produtoras de celulose do mundo e uma das líderes globais no mercado de papel. A empresa, que lidera o ranking de maiores captadoras de água do país, foi a que mais pagou pelo uso da água de fontes federais em 2022.
Contando todas as empresas da holding, a Suzano é autorizada a captar 469,8 bilhões de litros por ano, o suficiente para abastecer as populações das capitais Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM) juntas. Em 2022, a companhia pagou cerca de R$ 10,3 milhões – apenas R$ 0,11 para cada 10 mil litros autorizados.]

Isso ocorre porque a empresa está distribuída em várias partes do país e apenas em algumas delas há comitês de bacia com cobrança instituída. O valor foi pago a três comitês. A maior fatia, R$ 8,3 milhões, foi para o comitê do rio Doce, corpo hídrico em que está localizada a maior outorga individual da Suzano, que pode captar 173,4 bilhões de litros em Linhares (ES). A bacia abrange o leste de Minas Gerais e o nordeste do Espírito Santo.
O restante foi pago aos comitês do Paraíba do Sul (SP, MG e RJ) e do PCJ (que inclui os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em SP e MG).
Mas nada foi pago para os 142,6 bilhões de litros autorizados para captação em Três Lagoas (MS), onde está instalada a maior parte da produção da empresa. A falta de comitê faz com que a empresa não pague nada pelas autorizações de quase 71,8 bilhões de litros em Imperatriz (MA) e de 39,4 bilhões de litros em Belmonte (BA).
Em 2021, a empresa teve R$ 40,9 bilhões em receitas e R$ 8,6 bilhões de lucro líquido. O montante pago pela Suzano pelo uso da água, recurso-chave para uma empresa do setor de papel de celulose, representa 0,025% das receitas e 0,12% do lucro líquido.

Se os 4 trilhões que as maiores captadoras de água do país podem extrair fossem cobrados em 23 centavos a cada 10 mil litros, valor médio definido pelos comitês de bacia interestaduais, a arrecadação seria de R$ 920 milhões em 2022. Mas foi de apenas R$ 20,9 milhões.
A cifra representa uma pequena fração das receitas desses grupos empresariais que dominam os recursos hídricos no país. Das 22 empresas que pagaram algum valor, a reportagem conseguiu acesso às demonstrações financeiras de 13 delas, responsáveis por 94% do valor pago no ano retrasado. Somadas, elas tiveram R$ 157,7 bilhões em receitas em 2021, com um lucro líquido de cerca de R$ 33,7 bilhões.
O montante pago pelo uso da água representa 0,013% das receitas e 0,07% do lucro líquido dessas companhias somadas.
Entre as 22 empresas “donas da água” que não foram cobradas em 2022, uma das campeãs em captação é a Eldorado Brasil Celulose, que possui uma outorga de 148,9 bilhões de litros por ano, equivalente ao consumo de toda a população do Mato Grosso do Sul. A captação de água ocorre justamente no estado do Centro-Oeste, no município de Três Lagoas, a “capital da celulose”.

A empresa ganhou as manchetes nos últimos anos por estar no centro de uma disputa pelo controle acionário entre a indonésia Paper Excellence e a J&F Investimentos, dos irmãos Batista, donos da JBS e nacionalmente conhecidos por seu envolvimento na Operação Lava Jato.
No Norte do país, a Mineração Rio do Norte é outra das grandes captadoras de água que não pagam pelo uso do recurso hídrico até o momento. Velha conhecida do Ibama, com mais de R$ 30 milhões em multas, a mineradora pode captar 50,7 bilhões de litros por ano, o que equivale ao consumo de toda a população do Acre.
A lista inclui também gigantes do setor sucroalcooleiro que atuam na região Sudeste, como a Vale do Paraná, que possui outorgas para captar 107,5 bilhões de litros/ano, e o grupo Raízen Energia, parceria da Shell com a brasileira Cosan, que pode captar 115,3 bilhões de litros anualmente.
Apenas quatro empresas “donas da água” pagaram mais de R$ 1 milhão
Além da Suzano, apenas outras três empresas “donas da água” pagaram mais de R$ 1 milhão pelo uso da água em 2022: a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Celulose Nipo-Brasileira (Cenibra) e a Mosaic Fertilizantes. Somadas, essas empresas podem captar 239,2 bilhões de litros/ano e pagaram R$ 7 milhões pelo uso da água em 2022.
“Os valores cobrados ainda estão muito aquém de induzir um uso racional e muito aquém da capacidade de suporte de algumas empresas, ainda mais considerando que muitas delas têm uma captação de outorga bastante volumosa”, aponta Angelo Lima, da OGA Brasil.
Para Lima, o avanço da gestão da água e a garantia de perenidade dos recursos hídricos dependem “de uma vontade do setor produtivo”. “Depende deles enxergarem para além do seu negócio, irem além das conformidades. É preciso ultrapassar os muros das fábricas. Diferente do que alguns setores pensam, ter gestão – incluindo a cobrança pelo uso dos recursos hídricos – é uma garantia de que vai ter água, dá maior segurança para quem investiu milhões em seu processo produtivo”, diz.
Outro lado
A Pública contatou a ANA e todas as empresas citadas nominalmente ao longo da reportagem. A autarquia não deu retorno até a publicação.
A Suzano afirmou que “que suas unidades operacionais captam volumes de água abaixo das outorgas concedidas” e que isso seria resultado do que a empresa chamou de “operação ecoeficiente de seus processos industriais”. Disse também que “está comprometida em seguir as melhores práticas de mercado para reduzir o consumo de água”. A companhia apontou que “possui representantes em todos os Comitês de Bacia existentes nas regiões onde opera, e cumpre integralmente todos os compromissos estabelecidos pelos Comitês, apoiando ativamente iniciativas determinadas, com ênfase na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos”.
Em nota, a Eldorado Brasil Celulose afirmou que “mais de 86% da água utilizada [na produção de celulose] retornou ao rio em condições ambientais adequadas após passar por tratamento” e nos dez anos de operação teve “24% na redução de consumo de água para produção de celulose e reutilização de mais de 1.664.980 m³ de água das caldeiras para uso na lavagem de toras de madeira”.
A Mineração Rio do Norte (MRN) afirmou utilizar 20 milhões de metros cúbicos (20 bilhões de litros) por ano “em estreita conformidade com as outorgas de uso de água emitidas”. Apontou que isso “representa menos de 1% do volume total outorgável nas bacias hidrográficas onde opera” e que “não existem pagamentos pendentes referentes ao uso de água na empresa”. A MRN negou ter passivo ambiental com o Ibama e destacou seus compromissos socioambientais, afirmando que “os valores cobrados estão em discussão e se, eventualmente, se tornarem devidos, serão prontamente pagos”.
A Raízen Energia apontou que realiza “constantes estudos de corpo hídrico para que a captação de água seja compatível com a disponibilidade do recurso e ocorra de forma sustentável” e que, “no ano-safra 23/24, os recursos efetivamente utilizados limitavam-se a cerca de 6% dos recursos outorgados”. A empresa afirmou ter reduzido a captação de água de fontes externas no período de moagem em 11% e que pretende reduzir em 15% até 2030 e destacou não ter nenhum débito com a ANA. A Raízen também afirmou ter reduzido sua dependência de água e economizado 13,3 bilhões de litros desde 2015
Já a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) afirmou captar 80 bilhões dos 120 bilhões de litros de água que está autorizada a extrair e que “mais de 90% retorna ao rio Paraíba do Sul nas mesmas características da água captada ou em qualidade superior”. A empresa apontou que “o montante pago pelo uso da água contempla não somente a água captada, mas também o volume de água descartada e a parcela consumida (água evaporada)” e que os recursos são pagos à ANA “utilizando a metodologia e o preço de cobrança” definido pelo comitê de bacia local. A nota enviada pela CSN também destaca a “redução espontânea e proativa” no volume de água utilizado pela Usina Presidente Vargas (UPV), maior consumidora de recursos hídricos da empresa, ao longo dos últimos anos.
A Mosaic Fertilizantes destacou que participa de diversos Comitês de Bacias Hidrográficas e que “segue aquilo que é determinado nesses fóruns, inclusive no que se refere ao pagamento das outorgas de água”. A nota aponta também que a empresa “atua com responsabilidade e respeito em toda sua cadeia de valor, especialmente considerando as comunidades, adotando as melhores práticas de sustentabilidade”.
A íntegra das respostas de todas as empresas pode ser lida aqui.
A Vale do Paraná (Companhia Melhoramentos Norte do Paraná) afirmou que não vai se manifestar. A Cenibra não se pronunciou até a publicação.
METODOLOGIA
Edição: Giovana Girardi | Infografista: Matheus Pigozzi

Fonte: Agência Pública






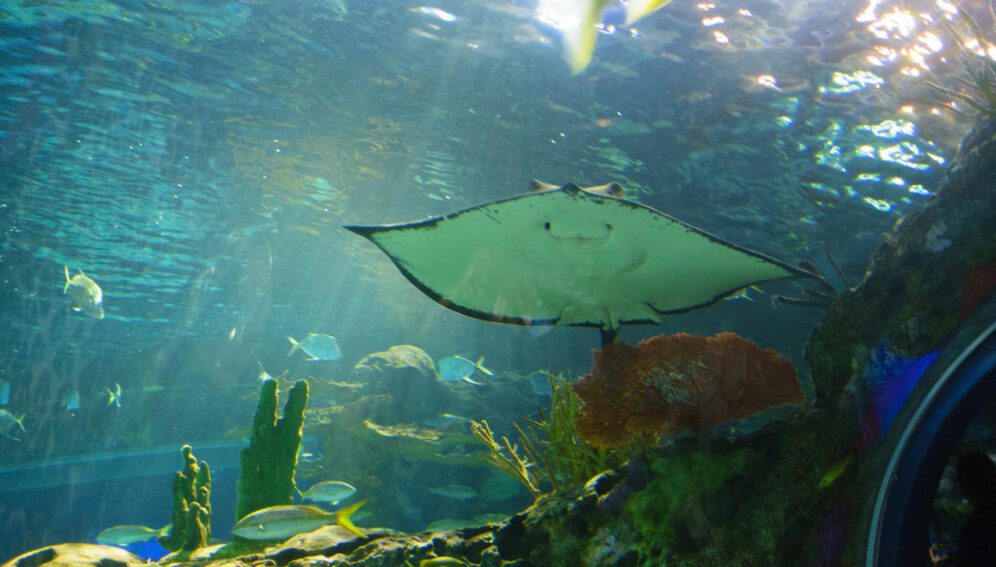

 Klabin quer minerar dentro da maior extensão de Mata Atlântica preservada no Brasil, o Vale do Ribeira (Foto: Manoela Meyer/ISA)
Klabin quer minerar dentro da maior extensão de Mata Atlântica preservada no Brasil, o Vale do Ribeira (Foto: Manoela Meyer/ISA) Áreas requeridas pela papeleira podem colocar em risco ecossistemas e comunidades tradicionais no Brasil (Foto: Maurício de Carvalho Nogueira / ISA)
Áreas requeridas pela papeleira podem colocar em risco ecossistemas e comunidades tradicionais no Brasil (Foto: Maurício de Carvalho Nogueira / ISA) APA onde Klabin prospecta minerais protege parque onde fica a queda mais alta do sul do Brasil, parte do sistema hídrico que abastece a região (Foto: Paraná Turismo/Divulgação)
APA onde Klabin prospecta minerais protege parque onde fica a queda mais alta do sul do Brasil, parte do sistema hídrico que abastece a região (Foto: Paraná Turismo/Divulgação) Requerimentos minerários da Klabin sobrepostos à APA Serra da Esperança, que protege o Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, no Paraná (Mapa: Rodolfo Almeida/Repórter Brasil)
Requerimentos minerários da Klabin sobrepostos à APA Serra da Esperança, que protege o Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, no Paraná (Mapa: Rodolfo Almeida/Repórter Brasil)
 Área onde Klabin busca minerais possui diversidade de recursos hídricos e ambientais onde atividade é vedada por lei (Mapa: Rodolfo Almeida/Repórter Brasil)
Área onde Klabin busca minerais possui diversidade de recursos hídricos e ambientais onde atividade é vedada por lei (Mapa: Rodolfo Almeida/Repórter Brasil) Quilombo do Varzeão está localizado em Doutor Ulysses, no Paraná, e é vizinho de empreendimentos da Klabin (Mapa: Rodolfo Almeida/Repórter Brasil)
Quilombo do Varzeão está localizado em Doutor Ulysses, no Paraná, e é vizinho de empreendimentos da Klabin (Mapa: Rodolfo Almeida/Repórter Brasil) Moradores da comunidade gostariam de ter aproveitado o cascalho da comunidade para pavimentar as ruas internas (Foto: Claudinei Rodrigues)
Moradores da comunidade gostariam de ter aproveitado o cascalho da comunidade para pavimentar as ruas internas (Foto: Claudinei Rodrigues)









